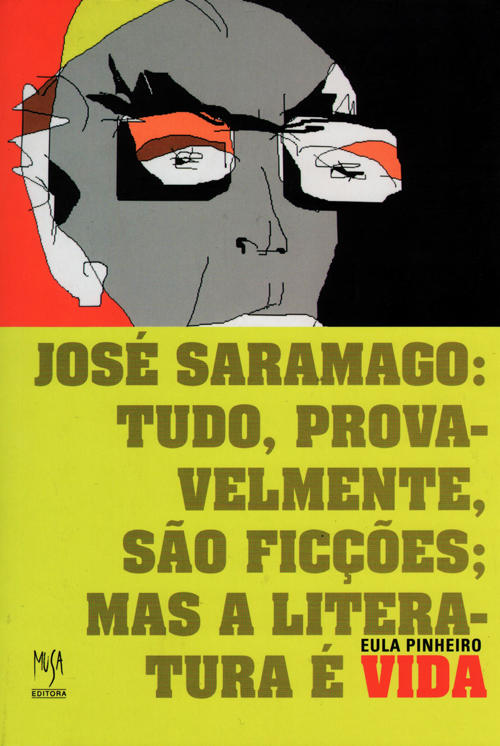
Resultado de uma Dissertação de Mestrado, temos aí o livro 'José Saramago: Tudo Provavelmente são Ficções, mas a Literatura é Vida', onde Eula Ribeiro analisa a primeira fase da obra do escritor português, desde o 'Manual de Pintura e Caligrafia' até à 'História do Cerco de Lisboa'. Ele próprio também tratou do seu percurso e da metáfora da 'estátua' (e da 'pedra') ao proferir uma conferência na Itália em 1998, cujo texto-base reproduzo a seguir.
A ESTÁTUA E A PEDRA
José Saramago
(Torino, 07 de maio de 1998)
Obrigado
ao Professor Pablo Luís Avila, nosso amigo, pelas suas palavras que não se
limitaram a apresentar o autor e o escritor, mas entraram também por áreas que
são pessoais e que não posso deixar de agradecer, porque isto de ir pela vida
como autor pode parecer algo muito compensador, mas a verdade é que acaba-se
por, mais tarde ou mais cedo, perder a relação com o nosso próprio eu, o eu
mais simples, mais elementar e por ver-nos apenas como autores. É bom,
portanto, que nas apresentações não se esqueça a pessoa que o autor é. E agora
eu entraria no meu tema, A Estátua e a Pedra, que pode parecer um pouco
estranho e um pouco desconcertante, uma vez que eu não sou nem escultor nem
construtor de prédios. Espero, contudo, que, no fim do percurso, esta ideia da
estátua e da pedra, que eu tentarei aclarar, sobretudo com referência aos meus
dois últimos livros, fique ela também clara no vosso espírito.
Ontem, depois de uma sessão sobre
história, aliás, magnífica sessão, eu tive ocasião de dar uma entrevista, para
o jornal Il Sole – 24 ore, a um jornalista, que eu creio estar aqui, o
jornalista Andrea Casalegno. E foi interessante porque eu tinha acabado de
assistir a essa sessão sobre temas históricos e passei a uma conversa que não
era sobre a história mas sobre hipóteses de consequência, da situação histórica
actual e o que pode acontecer no futuro. Num caso e no outro, não se tratou de
literatura, embora numa das conferências aqui, do Prof. Carlos Reis, se tivesse
enfim tratado de um romancista, Eça de Queirós, na vertente do seu trabalho
dedicado ao tema histórico. No conjunto, porém, eram temas sobre histórias que
não tinham nada que ver com a literatura. E a minha entrevista também não tinha
nada que ver com a literatura, o que de certo modo a mim me agrada porque ando
a dizer desde há uns tempos com alguma surpresa de quem me escuta que cada vez
me interessa menos falar de literatura. Pode parecer isto uma provocação, pode
parecer isto, enfim, uma atitude de quem quer tornar-se interessante e portanto
faz declarações um pouco inesperadas. Mas a verdade é que eu duvido mesmo que
se possa falar de literatura como duvido que se possa falar de pintura ou que
se possa falar de música. Evidentemente que se pode falar, como se pode falar
de tudo, como se fala dos sentimentos, das emoções e não quero com isto reduzir
ao silêncio aqueles que escrevem ou aqueles que lêem ou aqueles que sentem ou
aqueles que compõem música ou que pintam ou que esculpem, como se a obra em si
mesma já contivesse tudo quanto é possível dizer e que tudo o que vem depois
não fosse mais do que glosa do que já foi dito ou daquilo que, não tendo sido
dito, está ali. E é como se eu desejasse que tudo acabasse por limitar-me a uma
contemplação muda pela consciência que eu tenho de que, de uma certa maneira,
em todos estes domínios da arte da literatura, estamos lidando, estamos
tentando relacionar-nos com aquilo a que chamamos desde há muito tempo o
inefável. O inefável, uma vez que é inefável, é o que não pode ser explicado, é
o que não pode exprimir-se, havendo em todo o caso o cuidado de, a partir
disto, não cair em ideias de carácter transcendente onde tudo encontraria uma
explicação que seria exactamente não ter explicação nenhuma.
Esta atitude não parece racional,
porque não parece racionalista uma contradição à primeira vista e é uma
contradição numa pessoa que se considera a si mesmo racional, quer dizer que eu
tento fazer passar tudo pela razão. Isto não quer dizer que eu tente também
fazer passar pela razão os sentimentos que vivem ao lado da razão, embora não
haja grande migração de um lado a outro. O que, sim, quer dizer é que da mesma
maneira que aqui ontem a propósito da conferência do Nuno Júdice e enfim
reportando-nos a um verso do Fernando Pessoa quando ele dizia O que em mim
sente está pensando, eu propunha que esta frase, no fundo mais um jogo de
palavras dos muitos com que o Fernando Pessoa se entretém e nos entretém, em vez
de dizermos O que em mim sente está pensando, e parece que há de facto uma
tendência nessa direcção, talvez devêssemos dizer O que em mim pensa está
sentindo.
Esta coincidência de uma sessão sobre
a história e de uma entrevista sobre a história futura ou sobre o que pode ser
a partir dos dados do presente a história futura, leva-me a voltar a uma
questão velha, não muito velha porque enfim eu não ando a escrever há tantos
anos assim, mas que de uma certa maneira marcou desde o princípio o meu
percurso como escritor, sobretudo como romancista. E o que me marcou e continua
a marcar, confesso, com uma certa impaciência minha, é essa ideia de que eu sou
um romancista histórico, o que se confirmaria tanto por alguns livros que
escrevi como por uma atitude minha em relação ao tempo, em relação,
precisamente, à história, em relação a alguma coisa que para mim é claríssimo e
desde sempre o foi, mesmo quando eu ainda não escrevia livros, de que somos
herdeiros dum tempo, somos herdeiros duma cultura, somos, para usar um símile
que algumas vezes eu empreguei, como se estivéssemos numa praia, o mar está ali
e há uma onda que caminha em direcção à praia e essa onda não poderia mover-se
sem o mar que está por detrás e sobre essa onda que vem enrolando há uma
pequena franja de espuma que avança em direcção à praia onde vai acabar. Eu
penso enfim, para usar esta metáfora marítima, que somos nós a espuma que é
transportada nessa onda e essa onda é ela mesma impelida pelo mar e neste caso
o mar é o tempo, todo o tempo que ficou atrás, todo o tempo vivido que nos leva
e que nos empurra. Vivemos uma apoteose de luz e de cor na relação entre o
espaço e o lugar onde o mar está e somos essa espuma branca brilhante,
cintilante que tem uma breve vida, uma breve cintilação. Isto pode fazer de mim
alguém a quem a história preocupa, e é certo, a quem a relação com o tempo
passado preocupa, e é certo. Mas também é verdade e isso tem sido menos
apontado que há outra preocupação minha que não tem que ver com o passado e que
tem que ver com o destino da onda que vai derramar-se, acabar na praia. Por
isso na entrevista a Andrea Casalegno não falou de literatura, não falámos de
literatura, falámos da Europa, falámos do futuro, falámos daquilo a que eu
chamei, eliminando, digamos, um conceito muito recente mas que me parece, do
meu ponto de vista, que já está esgotado, que é o conceito do neoliberalismo
económico. Eu preferi substituí-lo por uma outra expressão que seria a de
capitalismo autoritário.
Foi disto que nós falámos, mas não é
disto que eu vou falar, claro está. Vou falar duma estátua, vou falar duma
pedra e é nesse ponto que me vou colocar agora, servindo-me desta relação
considerada óbvia entre aquilo que eu faço como escritor e os temas que eu
tenho escolhido, embora este termo de escolher há que examiná-lo, e já o
faremos adiante, e portanto é saber até que ponto eu sou de facto aquilo a que
se chama um romancista histórico. Foi citado aqui ontem um grande,
provavelmente o maior, historiador português, Alexandre Herculano, que decidiu
também escrever romances históricos, e há três romances, O Monge de Cister,
Eurico o Presbítero e O Bobo , romances que hoje não é fácil ler, romances
escritos num estilo muito, diria eu, muito pesado, um estilo, que digamos, não
avança, onde há uma retórica romântica dificilmente suportável. De toda a
forma, são enfim livros duma grande intensidade. Nesse caso pode-se dizer que o
romance histórico em Alexandre Herculano foi, por assim dizer, uma consequência
directa do seu trabalho de historiador. Agora, se deixarmos o Alexandre
Herculano e se pensarmos num outro autor português que veio muito mais tarde e
que é este que está aqui, sem estabelecer qualquer outro tipo de comparação,
acontece que, tendo eu começado a minha vida literária muito cedo, uma vez que
aos vinte e cinco anos publiquei um romance que não é bom e que só vinte anos
depois voltei a publicar, isto leva muitas vezes algumas pessoas de boa vontade
a perguntarem-me se decidi ficar calado durante vinte anos para ganhar
experiência, para depois começar a trabalhar com mais seriedade. E eu sempre
digo que não, porque ninguém tem a certeza de viver mais vinte anos e seria
absurdo dizer Vou agora esperar vinte anos, como se os tivesse garantidos para
depois disso começar a escrever com mais seriedade. Não foi assim e de resto
toda a minha vida foi feita sem planos, sem projectos, sem estratégias, sem
definir caminhos para chegar a determinados objectivos e isso tem que ver
também e talvez sobretudo com a minha própria actividade literária.
Depois da Revolução de 1974, tendo eu
sido, durante oito meses, no ano de 1975, director de um jornal que nessa
altura era e talvez ainda hoje seja o mais importante jornal português, o
Diário de Notícias, em Novembro desse mesmo ano eu deixei de ser director desse
jornal por razões, digamos, de ordem política, uma vez que em Novembro houve
aquilo a que já é possível chamar, sem nenhum risco de equívoco, um
contra-golpe de direita, de centro, se se quiser, que fez parar o processo
revolucionário em andamento. Isso custou-me a mim no plano pessoal, custou-me o
emprego que eu tinha e as funções que desempenhava nesse mesmo jornal. Tomei
nessa altura a decisão, provavelmente, eu diria, com certeza, a decisão mais
importante no que se refere à minha vida, à minha vida de escritor, que foi de
não procurar emprego e tentar saber o que é que eu poderia fazer finalmente
como escritor. Tinha uns quantos livros escritos, cinco ou seis, sete livros,
nada de muito importante com certeza, alguma poesia, crónicas literárias publicadas
em jornais, e pouco mais, ou, talvez, nada mais que isso. Decidi então não
procurar emprego e vivi durante uns quatro ou cinco anos de traduções. Aqueles
que já trabalharam nessa área sabem o que isso significa, porque as traduções
normalmente são mal pagas, é preciso um grande esforço para poder viver. Enfim,
é uma história antiga que não vale a pena recordar mais do que já foi
recordado.
Em 1977, portanto dois anos depois de
ter deixado ou de ter sido compelido a deixar as funções que tinha no Diário de
Notícias, eu publiquei um romance que se chama Manual de Pintura e Caligrafia.
É o meu romance mais italiano, quer dizer, eu diria mesmo, que é o único
romance italiano porque é de facto um romance onde a Itália tem uma presença,
digamos, mesmo em termos quantitativos, número de páginas, bastante evidente. O
Manual de Pintura e Caligrafia não promete nada ser um romance histórico. E eu
começo já por acentuar isto para que se veja como é redutora, e penso que cada
vez mais, esta definição de José Saramago romancista histórico. O Manual de
Pintura e Caligrafia não é um romance histórico, é um romance de actualidade, é
um romance que foi escrito no ano de 76, publicado em 77 e que se reporta
exactamente às semanas anteriores à Revolução de Abril de 74. É a história de
um pintor, não há que estranhar, eu, enfim sempre me interessei muito pela
pintura, é a história dum pintor, mas não é a história de um pintor genial, é a
história dum pintor medíocre, um pintor que ainda por cima tem a consciência da
sua mediocridade, o que é verdadeiramente extraordinário, e é um pintor que não
está contente com aquilo que faz e começa por tentar pintar melhor, ser melhor
pintor, mas evidentemente essas coisas não resultam da simples vontade e ele
reconhece que não, enfim, que não pode ir além daquilo que é o seu campo
possível de trabalho. Então decide começar a escrever sobre a pintura que faz e
inevitavelmente acaba por escrever sobre a escrita que está fazendo sobre a
pintura que faz. Por isso o livro se chama Manual de Pintura e Caligrafia, como
alguém que não está a aprender por um manual porque o livro começa por não
existir, o livro é escrito. A história é contada na primeira pessoa, enfim como
se calcula, a Itália aparece porque ele faz umas quantas viagens e portanto descreve
o que viu, é, no que se refere à Itália, uma espécie de percurso artístico,
mas, no que se refere à sua própria vivência pessoal, é um mergulho dentro
daquilo que ele julga ser, como hipótese de poder vir a ser outra coisa. É o
primeiro romance, sendo o primeiro romance desta minha última vida, e é também
o romance onde imediatamente a figura da mulher aparece como o elemento de
transformação. Este pintor conhece uma mulher e é esse conhecimento que o faz
reconsiderar que os caminhos pelos quais ele estava tentando conhecer-se a si
mesmo não eram com certeza aqueles que poderiam levá-lo a ter uma ideia clara
de si mesmo, porque era indispensável que nesse percurso para ele chegar a si
mesmo tivesse de passar por outro, neste caso, pelo outro que é essa mulher,
para que o caminho pudesse ter um sentido. O livro acaba precisamente na noite
da Revolução do 25 de Abril de 1974. O futuro desses dois, o pintor e a mulher
a quem ele ama e que o ama a ele não o sei, não sei se ainda estão felizes ou
se entretanto qualquer coisa lhes aconteceu que interrompeu aquela união. De
romance histórico, portanto, nada. Não há aqui nada de romance histórico.
O livro imediatamente a seguir é um
livro de contos que se chama Objecto Quase, que está publicado em Itália, pela
Einaudi, exactamente, e é um livro com, digamos, contos mais ou menos
fantásticos, ideias que eu tinha que não podia converter em romances. De resto,
nesse momento eu não estava tão seguro assim de poder dominar a técnica do
romance e portanto também os próprios temas não davam para isso, e são seis ou
sete contos, relatos, uns mais breves outros mais extensos, que de história
também não têm nada e que pelo contrário pareciam apontar para um tipo de obra
mais dedicado até mesmo, se se quiser, à ficção científica do que propriamente
à consideração dos factos concretos, reais, presentes, imediatos. Acontece, no
entanto, que eu tinha uma ideia que não era um projecto. Verdadeiramente eu
nunca tive projectos na vida, há que deixar isto bastante claro e quero demonstra-lo
desta maneira. Se eu, em 1976, quando eu escrevi, quando eu estava a escrever o
Manual de Pintura e Caligrafia, tivesse escrito num papel aquilo que eu
gostaria de vir a fazer, encontrar-me-ia com uma página branca, quer dizer,
teria uma página branca que não seria capaz de encher porque eu não tinha
projectos nenhuns para o futuro. Ao contrário de Balzac, e quando eu digo Ao
contrário de Balzac é ao contrário em tudo, claro está, e mesmo ao contrário
de, por exemplo, Fernando Pessoa, que tem listas, que escreveu listas de obras
a realizar, eu nunca tive aquilo a que se chama A Obra a Realizar. Depois do
Manual de Pintura e Caligrafia e do Objecto Quase, aí eu tinha de facto uma
ideia, que queria escrever um livro sobre aquilo que foi enfim a minha infância,
a infância de quem nasceu numa aldeia, de quem viveu nela, portanto, repor,
reconstituir, pôr de pé outra vez todo esse espírito da vida no campo, do
trabalho, dos sacrifícios, das misérias, das lutas que acabou por não ser
referido ao meu próprio lugar de nascimento e de vivência, que transportei para
outra região de Portugal, um pouco mais ao Sul do lugar em que eu nasci. Essa
região é o Alentejo, que tem efectivamente uma tradição de lutas camponesas
antiquíssima e esse é o livro que se chama Levantado do Chão, que se publicou
em Itália com o título de Una terra chiamata Alentejo, o que não acrescenta
nada, só diz onde é. Também aí se pode dizer que, bom, romance histórico, vamos
ver. É certo que se descreve a vida de três gerações duma família camponesa,
desde os finais do século dezanove até à Revolução de Abril de 1974, um pouco
mais além. Bem, são três gerações, há aí uma parte que podemos dizer de
passado, há uma reconstituição de factos ocorridos, portanto pode dizer-se,
enfim, tem alguma coisa de romance histórico, embora eu não o veja assim.
Aquilo que parece ter definido de uma
vez para sempre que eu sou um romancista histórico é o Memorial do Convento.
Mas vamos lá a ver. O Memorial do Convento nasceu como, e porquê? O Memorial do
Convento nasceu duma circunstância fortuita e que eu posso contar-vos em
meia-dúzia de palavras, que um dia, estando eu em Mafra, com algumas pessoas
que me acompanhavam, ou a quem eu acompanhava, e estando diante do convento, os
que conhecem o Convento de Mafra sabem que é uma coisa imensa, enorme, e eu
disse em voz alta Gostaria um dia de pôr isto num romance. Provavelmente se eu
não tivesse dito em voz alta, se eu tivesse pensado e calado, a própria
dimensão da tarefa provavelmente intimidava-me tanto que eu não tinha escrito o
livro. Só que ao pronunciar em voz alta aquilo que eu tinha pensado duma certa
maneira senti-me obrigado perante as pessoas que me tinham ouvido que
inevitavelmente me iriam perguntar Então, sempre escreves o romance sobre o
Convento de Mafra? Acontece também, por outro lado, que a ideia sobre o
Convento de Mafra, essa hipótese de vir a escrever esse livro, é posterior à
ideia que eu tinha de escrever O Ano da Morte de Ricardo Reis. O livro sobre o
Convento de Mafra foi publicado em Portugal em 1982. O Ano da Morte de Ricardo
Reis foi publicado em 1984, mas a verdade é que a ideia do Ano da Morte de
Ricardo Reis é anterior ao Memorial do Convento. O que acontece é que,
enfrentando-me com o Ricardo Reis, que é a mesma coisa que dizer enfrentando-me
com o Fernando Pessoa, entrou-me um tal pavor, um tal medo de desafiar as iras
dos especialistas do Fernando Pessoa, eu que não tinha diplomas nem atributos
nem méritos conhecidos para me meter nesse mundo pessoano, que, tal como terá
dito outro, Afastai de mim esse cálice, eu disse-me a mim mesmo, Afasta de ti
essa tentação. E o Memorial do Convento. é escrito antes, como se a tentação do
Memorial do Convento, como se a tarefa que me esperava para escrever o Memorial
do Convento.Ano da Morte de Ricardo Reis. Portanto, sai o Memorial do Convento
e a partir daí começa então José Saramago romancista histórico. O Ano da Morte
de Ricardo Reis podia mais ou menos confirmar um pouco essa ideia uma vez que
eu estava a publicar em 1984 um romance cuja acção se passava no ano de 1936.
Mas isto levanta uma questão, que é a de saber quando é que começa a história.
Cem anos, já é histórico? Parece que sobre isso ninguém tem dúvidas nenhumas,
não é. Mas cinquenta anos antes, também já é história? E vinte anos antes,
também será história? E vintequatro horas antes, será história? Então, nunca se
sabe muito bem onde é que está essa fronteira que separa aquilo que chamamos
presente daquilo a que chamamos passado, partindo desta ideia de que tudo
quanto tem que ver com o passado é história e tudo quanto tem que ver com o
presente é actualidade. Porque, se é verdade que por exemplo o Alexandre
Herculano, ou o Walter Scott, por exemplo, escreveram romances que sem nenhuma
dificuldade podemos classificar de históricos, no sentido de que são tentativas
de reconstituição de uma época determinada, de uma mentalidade determinada, sem
qualquer intromissão do presente, em que, por assim dizer, o autor finge
ignorar o seu tempo para colocar-se inteiramente num determinado momento do
passado que ele vai tentar reconstituir, no meu caso as coisas são diferentes.
No fundo, o romance histórico, entendido assim é como se o autor pudesse fazer
uma viagem ao passado, lá, fazia uma fotografia do passado e depois regressava
ao presente, colocava a fotografia diante dele e punha-se a descrever a
fotografia. Portanto ele não tinha, como ser duma época determinada como seria
neste caso o nosso presente, nada das suas preocupações de hoje poderia
interferir na reconstituição dum tempo passado que era aquilo que ele estava
tratando de fazer. Esse seria o romancista histórico ou o romance histórico
entendido como foi entendido pelo Walter Scott, por exemplo, ou pelo Alexandre
Herculano em Portugal. não fosse provavelmente muitíssimo mais difícil que a do
O Memorial do Convento não é este
romance histórico. O Memorial do Convento é um romance sobre um dado tempo do
passado, mas visto da perspectiva do momento em que o autor se encontra, e com
tudo aquilo que tem que ver com o autor, a sua própria formação, a sua própria
interpretação do mundo, o modo como ele considera o processo de transformação
das sociedades. Tudo é visto à luz do tempo em que ele está, e não com a
preocupação de iluminar aquilo que ele descreve apenas com as luzes ou os focos
do passado, ele vê o tempo de ontem com os olhos de hoje. Então o caso d’O Ano
da Morte de Ricardo Reis pode ser entendido como romance histórico, se se
quiser, do meu ponto de vista não o é, mas imediatamente muito menos o é A
Jangada de Pedra que vem logo a seguir, em 1986, e que aqui se publicou na
Feltrinelli creio, com o título La zattera di pietra. A Jangada de Pedra , como
se sabe, é a Península Ibérica, que se separa sem trauma da Europa e que vai
flutuando pelo mar fora como uma jangada, come una zattera, até parar, até se
fixar entre a América do Sul e a África. Uma ilha, a Península Ibérica
transformada numa ilha, e enfim o livro foi entendido de diversas maneiras
sobretudo negativas. Foi dito e redito e mil vezes proclamado que era um livro
escrito contra a Europa como se um pobre romancista pudesse escrever qualquer
coisa contra a Europa. E quem leu o livro efectivamente com olhos de ler e
sobretudo quem conhece a trajectória do autor também entende que o leitor reage
em relação a um livro e não tem que fazer passar as suas opiniões sobre esse
livro, por um conhecimento que ele tenha sobre a própria vida do autor, e
aquilo que ele diz, e aquilo que ele faz. Mas alguém, e que ainda por cima nem
sequer era um crítico literário, mas um político catalão, escreveu um artigo
extremamente interessante em que ele dizia mais ou menos isto, Não nos
equivoquemos, este senhor não quer que a Península Ibérica se separe da Europa,
aquilo que ele pretende é arrastar, levar a Europa para o sul, o que seria uma
transformação geológica tremenda, quer dizer, toda a Europa deslocando-se em
direcção, não já só a Península Ibérica mas toda a Europa deslocando-se para o
sul. Claro que isto tem que ver, já se sabe, com a velha questão norte sul, a
velha questão colonizadores colonizados, a velha questão exploradores
explorados, enfim, a dicotomia por um lado e a antinomia por outro lado norte
sul, tudo isso, com tudo o que leva de conceitos de supremacia rácica, de
domínio económico, de, digamos, imperialismo. Tudo isso, aquilo que está
implícito no livro, ou pelo menos para um leitor que o leia assim, pode ser
lido de distintas formas, claro está. É que o autor gostaria que a Europa
deixasse de ser aquilo que sempre foi para tornar-se, sem deixar de ser aquilo
que foi, porque as tradições pesam, a cultura pesa, a história pesa, mas para
converter-se de alguma forma numa entidade moral que acrescentasse a tudo
aquilo que ela tem sido uma dimensão ética, que até agora não teve, e que fosse
para o mundo o elemento de transformação de valores e de reconhecimento de
direitos de povos que até hoje, praticamente até hoje, e com certeza também no
futuro, de uma forma ou outra, têm sido e vão continuar a ser explorados. A
Jangada de Pedra foi, na minha cabeça, uma espécie de proposta para a formação
de uma nova bacia cultural que não seria já, porque essa já cumpriu o seu papel
histórico, a bacia cultural mediterrânica, mas sim aquilo que seria a bacia
cultural, que não tem forma de bacia, como é o caso, ao contrário do que
acontece com o Mediterrâneo, que praticamente é um grande lago, mas que seria
de uma certa forma isso a que os espanhóis chamam uma cuenca cultural do
Atlântico Sul. Quer dizer que entre a América do Sul e a África, a Península
Ibérica estaria aí, tornada ilha, e mesmo por ser uma ilha, cercada de mar por
todos os lados, podendo comunicar com tudo o que está fora dela. É outra vez
uma utopia, claro, nós estamos um pouco cansados de falar de utopias, enfim, e
o livro ficou aí e portanto do romance histórico também não tem nada.
Depois, sim, vem outro, provavelmente
estarão perguntando o que é que isto tem que ver com a estátua e o que é que
tem que ver com a pedra, já lá chegaremos, depois vem sim um livro que se chama
História do Cerco de Lisboa. Como já viram os meus livros caracterizam-se
alguns deles por terem títulos que não são títulos de romances, os meus
romances não têm normalmente títulos de romance, um chama-se Manual de Pintura
e Caligrafia, o que não é de todo título para um romance, é de tal ordem que
enfim por essa ocasião dos anos, final dos anos setenta, um livreiro de Angola
supondo que era um livro didáctico comprou duzentos exemplares, porque
imaginava que ali se tratava de ensinar as pessoas a pintar e a escrever, o
pobre livreiro. Não sei o que aconteceu a esses duzentos livros porque para uma
Angola na situação económica em que se encontrava, porque já era terrível, com
a guerra civil entre a gente da UNITA e dos outros movimentos que entretanto
desapareceram e, por outro lado, o MPLA, enfim, encomendar 200 livros era o
gesto de quem queria ter ali livros supostamente úteis, quem sabe, a estudantes
que afinal de contas tiveram uma decepção porque o livro não tinha nem desenhos
nem nada, era uma história. Enfim, não sei o que é que aconteceu a esses livros.
Provavelmente como não foram necessários como não tinham utilidade nenhuma, ou
não tinham a utilidade que se esperava deles, se calhar ficaram por ali
abandonados e se calhar os insectos dos trópicos já os devem ter devorado
todos. Ora bem, o Manual de Pintura e Caligrafia é um desses, depois vem o
Memorial do Convento, que também não é título de romance, aparece a História do
Cerco de Lisboa, que menos é ainda e aí não se trata de um romance histórico,
trata-se de um romance que questiona a verdade histórica, aquilo a que nós
chamamos a verdade histórica. O livro, a acção do romance passa-se em dois
planos temporais, no séc. XII e no séc. XX. A história é a de uma pessoa
insignificante, aliás todas as minhas personagens são insignificantes, nos meus
livros não há heróis, não há gente muito formosa, nem sequer as mulheres,
porque como eu não as descrevo, o leitor pode ter uma imagem que entender das
personagens femininas, mas o que eu não digo é que eles são muito formosos ou
que são muito isto ou que são muito aquilo, enfim estão ali, dou ao longo do
livro duas ou três ou quatro características físicas das personagens mais
importantes, mas nada de descrever metodicamente e minuciosamente o rosto a
altura a figura o gesto, nada, o leitor trata disso. Ora bem, a personagem
principal da História do Cerco de Lisboa é um revisor de imprensa, é alguém, é
aquilo a que eu chamo o conservador por excelência. Quer dizer, é o tipo de
pessoa que tem de respeitar o que está escrito, tem de respeitar o documento, a
autoridade que está implícita num documento, ele não pode alterar nada, não
deve alterar nada, pelo contrário, deve corrigir os erros. E este homem, isto
leva quarenta e tantas páginas a preparar o leitor para um acto efectivamente
insólito, resolve introduzir, num livro que se chama História do Cerco de
Lisboa, que ele está revendo e de que é autor um historiador, ele resolve
introduzir uma palavra que nega o que se supõe ser uma verdade histórica, e que
efectivamente o é. Os portugueses, então, então ainda não havia Portugal,
enfim, quer dizer, Portugal ainda não havia, Portugal estava a formar-se e
aquele que seria o nosso primeiro rei conquistou Lisboa aos mouros, que já
estavam ali há quatro ou cinco séculos, ajudado pelos cruzados que vinham do
Norte e que se dirigiam à Terra Santa, numa das Cruzadas, isso foi objecto duma
negociação entre aquele que seria o rei de Portugal e os chefes desses
cruzados, para que eles desembarcassem e ajudassem os portugueses,
chamemos-lhes assim, a conquistar a cidade. E irritado com a suficiência dos
documentos históricoss, e com a evidente falsidade de alguns deles, o nosso
revisor, onde o historiador-autor da História do Cerco de Lisboa, porque há
aqui tres histórias do cerco de Lisboa, uma é o livro que eu escrevi, que se chama
História do Cerco de Lisboa; outro é a História do Cerco de Lisboa dum
historiador, que está sendo objecto da revisão e dos cuidados profissionais do
revisor, e mais tarde haverá outra História do Cerco de Lisboa, que é a que o
próprio revisor escreverá. A razão porquê, já digo. Então o revisor acrescenta
numa passagem da História do Cerco de Lisboa do historiador, onde se diz que os
cruzados ajudaram os portugueses a conquistar Lisboa, ele introduz, comete a
ousadia, a barbaridade o sacrilégio de introduzir a palavra não. E o que vai
sair, o que vai ser publicado, refiro-me ao livro História do Cerco de Lisboa
de que é autor o historiador, é que os cruzados não ajudaram os portugueses a
conquistar Lisboa, quer dizer, a negação da chamada verdade histórica. Este
episódio vem a ser descoberto, não tarda muito, o editor descobre a fraude, há
uma senhora, há uma mulher, outra vez uma mulher, que fala com ele sobre o erro
que ele cometeu e que após um processo de sedução mútua o leva a ele a
escrever, ele próprio, uma História do Cerco de Lisboa em que os cruzados não
tivessem efectivamente ajudado os portugueses a conquistar Lisboa. O que é que
o autor que sou eu desta confusão toda, porque reconheço que para um leitor
desprevenido, o leitor confunde-se nestes diferentes planos narrativos, quis
dizer com isto? Também o autor não tem obrigação nenhuma, nem provavelmente se
lhe deve pedir, perguntar o que é que quer dizer com isto. Mas como estamos
aqui justamente para falar do que se fez e do porque se fez, então aquilo que
eu pretendo dizer é precisamente o contrário daquilo que faria o romancista
histórico. O romancista histórico faria romances históricos, e com este livro
que aparentemente é o mais histórico de todos, o que eu quero dizer é que a
verdade histórica não existe.
Da mesma maneira que o Eça de Queirós
dizia, conforme o Professor Carlos Reis ontem aqui lembrou, ao nosso
historiador Oliveira Martins, que a história é provavelmente uma grande
fantasia, o que eu estou a dizer de facto também na História do Cerco de Lisboa
muitos anos depois é que a história é uma grande fantasia e que a verdade
histórica, não é que ela não exista, mas provavelmente existe num lugar
inacessível, onde não é possível chegar. Nós ouvimos também aqui, na
conferência de ontem sobre as relações entre a Casa de Savoia e Portugal desde
o séc. XII ou coisa que o valha, do séc. XII ou do séc. XIII, relações
frequentíssimas, mas eram sempre, não eram entre os povos mas entre Casas
reinantes, entre reis, entre duques de um lado, reis do outro, casamentos de
infantas com duques, tudo isso se passava nesse nível superior que é aquele de
que normalmente a história toma conhecimento ou pelo menos um conceito de
história anterior tomava conhecimento. Com exclusão de tudo o que é, quero dizer,
creio que, enfim, estou falando por mim neste momento, deste ponto de vista
nenhum de nós, dos que estão aqui, entraria na História, porque nenhum de nós é
presidente, nenhum de nós é ministro, nenhum de nós é rei, nenhum de nós é
duque, nós não contamos para a história ou, melhor dizendo, pode ser que sim,
se decidirmos dar um tiro, digamos, eu, no primeiro ministro de Portugal, coisa
que não me passa pela cabeça, porque é uma pessoa muito simpática, mas se eu
fizesse isso entraria na História, mas se eu não fizer nada, se não ganhar tão
honradamente quanto eu possa a vida e trabalhar tão dignamente quanto eu possa,
não entrarei na História por isso. Ora bem, a negação da história de que fala
este revisor de imprensa, a história que ele nega, é essa, essa que se passa do
alto, aquilo que ele no fundo quer, aquilo a que ele aspiraria seria a narrar a
história daqueles que não entram na História.
O que vem depois da História do Cerco
de Lisboa? O Evangelho segundo Jesus Cristo. Mas agora faria aqui uma pequena
pausa para dizer-vos o seguinte, como eu comecei por dizer que não havia
planos, que não fiz planos na vida, e aqui já descrevi uns quatro ou cinco
livros, parece que há aqui uma relação de causa e efeito que leva de um romance
a outro, parece que há aqui uma intenção, parece que há aqui afinal, se não uma
lista escrita, há uma ideia que pouco a pouco vai sendo concretizada em livros.
Ora, o que eu quero dizer-vos é que normalmente, e tirando a excepção da
coincidência de motivo ou de motivação entre o Memorial do Convento e O Ano da
Morte de Ricardo Reis, o que acontece invariavelmente é que, quando eu termino
um livro, quando eu termino um romance, não tenho qualquer ideia para um livro
que venha a seguir. Isto pode parecer um pouco estranho, porque normalmente não
é assim que as coisas acontecem, os autores têm ideias, vão tomando notas,
apontando, isto não é para agora, isto escreverei mais tarde. No meu caso, não
é assim, cada livro que eu termino deixa-me diante dum deserto, não sei o que é
que vai acontecer. Pode não acontecer nada, pode acontecer qualquer coisa, pode
levar meses, pode levar semanas, pode levar até anos, eu fico simplesmente à
espera da ideia que chegue. Até agora chegou sempre, mas não vale a pena ter
ilusões, chegará o momento em que já não haverá mais ideias e aí não terei mais
remédio se não deixar de escrever. Espero que a minha mulher me diga, Não tens
ideias, não escrevas, porque a tendência, a tentação que nós temos é quando já
não temos nada para dizer continuar ainda a escrever, e suponho que é o pior de
tudo. Enfim, como ainda lá não cheguei, não sei como é que vou viver esse
momento, mas espero que a minha mulher conserve o bom senso que naquela altura
já me estaria faltando a mim. Ora bem, isto quer dizer que quando eu acabei a
História do Cerco de Lisboa, não tinha nenhuma ideia sobre o livro que viria
depois. E o livro que veio depois pergunto-me eu ainda hoje porque é que veio,
porque, visto de fora, os leitores diante dos livros que estão escritos,
refiro-me particularmente aos romances, dirão, Não há dúvida nenhuma que isto
tem uma coerência e, embora os temas sejam todos diferentes uns dos outros, há
aqui uma linha que liga tudo isto, Efectivamente há, mas eu diria que é uma
linha que se interrompe em cada livro e que fica esperando que ela própria se
desenvolva para a frente, não é uma linha que eu vou seguindo porque a linha já
está toda ali e portanto eu vou seguindo ao longo da linha, não é uma linha
cuja ponta está na minha mão e eu fico à espera que a linha continue e depois
vou eu atrás dela, mas a linha continua, como?, acontece que a linha continua
por razões que eu não entendo.
O Evangelho segundo Jesus Cristo, que
é um livro que causou muita polémica e que é responsável por eu estar a viver
em Lanzarote, é um romance que pelos ecos que me chegaram foi lido em Israel
com uma atenção extraordinária devido, digamos, ao próprio carácter humano da
figura de Jesus, profundamente humano, totalmente humano. É um livro que eu não
projectei, nunca, nunca me passou pela cabeça vir a escrever uma vida ou
reescrever uma nova vida de Jesus havendo tantas e tantas de todo o tipo desde
as insultuosas às interpretações malévolas, às críticas ferozes ou pelo
contrário ao mais comprometido do ponto de vista do dogma. Enfim, sobre esse
pobre homem tudo se disse e portanto parece que não fazia falta um livro mais.
Simplesmente eu fui obrigado pelas circunstâncias a escrever esse livro, e as
circunstâncias foram estas. Estando eu em Sevilha, e aqui estas coisas ligam-se
todas, quer dizer, eu estava em Sevilha com a minha mulher, minha mulher é
sevilhana, eu não estaria em Sevilha nessa altura nesse momento se eu não
tivesse casado com ela, portanto o livro O Evangelho segundo Jesus Cristo
escreve-se porque nós nos encontrámos, escreve-se porque ela era de Sevilha,
escreve-se porque eu atravessei uma rua naquele momento determinado, porque sem
isso não haveria Evangelho segundo Jesus Cristo. Da mesma maneira que também,
enfim, isto só é importante para nós, se nós nos encontrámos e nos casámos foi
porque ela leu O Ano da Morte de Ricardo Reis. Portanto há aqui uma ligação
entre vida e obra que passa até enfim pela intimidade mais extrema. Ora bem,
estando eu em Sevilha e atravessando uma rua na direcção dum quiosque de
jornais, olhando em frente porque o trânsito vinha dum lado e doutro e enfim eu
tinha de atravessar com bastante cuidado mas olhando em frente e ao lado eu
leio, e peço que acreditem naquilo que eu vou dizer, leio distintamente no
conjunto de jornais suspensos e de revistas que caracteriza qualquer quiosque
de venda de jornais e de revistas, leio distintamente em português O Evangelho
segundo Jesus Cristo, Em português, ainda por cima, em português. Passei,
atravessei a rua, continuei a andar, dez metros adiante paro e digo, Isto não é
possível, mas enfim para saber se era possível ou não voltei atrás para
verificar e o que eu vi foi que nem estava Evangelho nem em português, nem em
espanhol, nem em italiano, nem de forma nenhuma, não estava nem Jesus, nem
estava Cristo. Quer dizer, eu tive uma, não é uma alucinação, não, não vamos
pôr a questão assim, eu tive simplesmente uma ilusão de óptica. A outra
hipótese é que Deus tenha querido que eu escrevesse este livro e portanto
colocou ali miraculosamente, foi um milagre, as letras que depois
desapareceram. Dá vontade de dizer que, se Deus quis, deve ter-se arrependido
depois. Mas o que é que aconteceu ali? que eu fiquei apenas com O Evangelho
segundo Jesus Cristo., e o que é que eu vou fazer disto? num primeiro momento
eu disse, Bem, isto é capaz de dar um conto, uma coisa assim, sei lá, mas
também não sabia como. E levei cerca de um ano sem saber o que havia de fazer
de qualquer coisa que eu pressentia que era o livro, o livro seguinte tinha de
ser aquele, mas também não sabia como é que, por que ponta é que lhe podia
pegar. E aconteceu que, passados meses, vim a Itália e em Bolonha, na
Pinacoteca de Bolonha, entrando, e portanto na segunda sala ou na terceira sala
à esquerda de repente, vejo os pontos de apoio, todos os pontos de apoio de que
eu precisava para escrever o livro que veio a ser O Evangelho segundo Jesus
Cristo. Depois fui começar a trabalhar, e o livro está aí.
Eu diria que, com este livro, terminou
a estátua. O que é que eu quero dizer com isto? mas só o posso dizer agora,
claro. O que é que eu quero dizer com isto? É como se eu, ao longo de todos
estes romances desde o Manual de Pintura e Caligrafia até O Evangelho segundo
Jesus Cristo, é como se eu me tivesse dedicado a descrever uma estátua. O que é
uma estátua? a estátua é a superfície da pedra, a estátua é só a superfície da
pedra, é o resultado daquilo que foi retirado da pedra, a estátua é o que ficou
depois do trabalho que retirou pedra à pedra, toda a escultura é isso, é a
superfície da pedra e é o resultado dum trabalho que retirou pedra da pedra.
Então é como se eu tivesse ao longo destes livros todos andado a descrever essa
estátua, o rosto, o gesto, as roupagens, enfim, tudo isso, descrever a estátua.
Imaginem que bela é, ou pelo contrário, que horrível, e essa descrição teve
várias expressões que vão desde o Manual de Pintura e Caligrafia passando por
todos os outros livros até a O Evangelho segundo Jesus Cristo, porque quando o
acabei eu não tinha, não sabia que tinha andado a descrever uma estátua, para
isso tive de perceber o que é que acontecia quando deixávamos de descrever e
passávamos a entrar na pedra. E isso só pôde acontecer com o Ensaio sobre a
Cegueira, aqui publicado com o título Cecità, que foi quando eu percebi que
alguma coisa tinha terminado na minha vida de escritor que era ter acabado a
descrição da estátua e ter passado para o interior da pedra, com o Ensaio sobre
a Cegueira, Cecità.
Confirmado mesmo nesse momento, quando
eu escrevi o Ensaio sobre a Cegueira não estava consciente disto tornei-me
consciente disto quando terminei o último romance que se chama Todos os Nomes,
Tutti i nomi, e que será publicado em Itália salvo erro em Setembro. E o que é
isto de ter passado de descrever a estátua, de ter passado dessa descrição ao
interior da pedra? Quando eu comecei por dizer logo ao princípio que cada vez
me interessa menos falar de literatura não para reduzir-me como pareceu, como
pode ter parecido, a essa contemplação silenciosa das coisas e dos seres, mas
sim porque considero que a literatura é uma parte mínima, não direi mínima mas
é simplesmente uma parte, do que chamamos vida, do que chamamos tempo, do que
chamamos história, do que chamamos cultura, do que chamamos sociedade. É nada
mais que isso. E que o perigo para os que escrevem é imaginar que a literatura
é tudo e que para além da literatura não há nada. Eu creio pelo contrário que
tal como na nossa vida se passam acontecimentos de todo o tipo, também digamos
na expressão daquilo que sentimos ou daquilo que pensamos, que pode ser uma
expressão literária, mas que pode ser uma expressão musical ou uma expressão
pictórica ou qualquer outro tipo, ou uma expressão filosófica, tudo isso são
modos de fazer passar para o lado de fora aquilo que constitui as nossas
preocupações. E as minhas preocupações neste momento, ou provavelmente desde
sempre, mas que a própria obra feita até agora foi tornando cada vez mais claro
aos meus próprios olhos, é que aquilo que me interessa realmente é o ser
humano.
O Ensaio sobre a Cegueira , isto
digo-o para os que o não leram, é a história de uma cegueira súbita,
fulminante, que torna portanto cegos todos os seres. Pode dizer-se que é uma
epidemia, pode dizer-se que é uma praga, isso não está explicado no livro, a
única coisa que se diz é que as pessoas se tornam cegas. Podem-se imaginar, num
mundo em que todos os seres humanos cegassem, as consequências disso, num mundo
que está todo ele organizado segundo, para, o sentido da vista. O mundo não
está organizado para o sentido, quer dizer, predominantemente, não está
organizado para o sentido do olfacto, nem para o sentido do tacto, talvez um
pouco mas não exclusivamente e não tão determinadamente, está sobretudo
orientado para o sentido da vista. E portanto pode-se imaginar a catástrofe, o
caos em que se tornaria o mundo se toda a gente cegasse. O ponto de vista deste
romance é que não é preciso que toda a gente cegue porque efectivamente já
estamos cegos, cegos não dos nossos olhos, há cegos, claro está, mas esses
cegos vivem num mundo de videntes e portanto podem ser ajudados a viver. Agora
a minha pergunta é esta, quem é que nos ajuda a viver, quem é que ajuda a viver
os cegos que nós somos. Cegos de quê? Em primeiro lugar, cegos da razão, a
nossa razão não é uma razão que veja, o ser humano é um ser estranhíssimo
porque é o único ser sobre a Terra que foi capaz de inventar algo tão estranho
ou que devia ser tão estranho à própria natureza das coisas e dos seres como
ter inventado a crueldade. Nenhum ser no mundo é cruel, nem o leão, nem o
tigre, nem a aranha, nenhum animal no mundo é cruel, n único ser cruel é o
homem, nenhum animal tortura outro animal, o ser humano é capaz, e sabemos até
que ponto, de torturar o seu semelhante. Então aquilo que o livro coloca não é
já mais a descrição da estátua, mas uma tentativa de entrar na pedra que é como
quem diz entrar no mais profundo de nós, Porque é que somos como somos?
Evidentemente que o livro não dá resposta a isso, provavelmente essa resposta
nem existe e se existe não seria eu a pessoa para dar essa resposta. Mas o que
o livro diz, ou que ao menos tenta dizer do ponto de vista do autor é isto, Nós
somos assim. Perguntemos agora cada um de nós porquê somos assim. No livro há
felizmente uma personagem que é outra vez uma mulher, eu acho que as mulheres,
as minhas leitoras devem estar muito contentes com o autor dos livros que lêem,
porque em verdade, em verdade, em verdade, como personagens as únicas que
efectivamente se salvam, são as mulheres. Não é que os homens não sejam boas
pessoas, nos meus livros já ficou claro que não há heróis, seria incapaz de pôr
ali um Rambo ou um herói qualquer que numa batalha matasse duzentos inimigos
duma vez só, não quer dizer a minha gente, a gente que eu conheço no fundo são
aqueles que eu conheço. Como eu não conheço heróis, não os invento, eu conheço
gente tão normal como eu sou e portanto são esses que mais directamente ou
menos directamente passam aos meus livros. Provavelmente nem as mulheres que eu
invento existem, provavelmente são projectos de mulheres, talvez me seja mais
fácil imaginar um projecto de mulher que imaginar um projecto de homem, não
sei, isso são coisas para os analistas, para os psicólogos, para alguém que se
pergunte, E porque é que ele faz isto? não serei eu quem tenha que o dizer.
Provavelmente como fui criado por mulheres, porque vivi sempre entre mulheres,
porque aquilo que aprendi de efectivamente útil na vida, de mais profundamente
útil não no sentido utilitário, no sentido útil, daquilo que nos forma, veio
das mulheres, que também não são nenhuns anjos claro está, já sabemos, mas
enfim.
Então há essa figura que é a mulher do
médico que não cegou, e já agora para saber ou para que tenham uma ideia de
como tudo no meu trabalho literário é ocasional que não tenho os tais planos
nem faço nem tenho estratégias, aqueles que leram o Ensaio sobre a Cegueira
sabem que há um capítulo em que um médico, que por acaso é um oftalmologista ou
oculista como se diz em Espanha, não sei como é que se diz aqui, ele próprio
cega e vai ser levado para um lugar onde o Governo está a recolher os cegos
todos que vai encontrando antes que a cegueira se tenha tornado geral. E a
mulher acompanha o marido à ambulância que o vai levar e ela própria sobe, sobe
para a ambulância e o condutor da ambulância diz, Não, a senhora não pode
entrar porque eu só posso levar o seu marido porque ele está cego, e ela
responde mentindo, Tem que me levar também a mim porque eu ceguei agora mesmo.
E portanto embora não estando cega ela acompanha o marido. Primeiro passo para
a definição de uma personalidade, essa mulher não cegará nunca, e será a única
que não está cega, mas naquele momento em que ela entra para a ambulância eu
não sabia o que é que ia fazer dela. Podia ser que cegasse, no capítulo
seguinte, mas de repente quando cheguei ao capítulo seguinte compreendi que
não, que não só aquela mulher não ia cegar ali, como não podia cegar nunca. E
não cega porque é a única capaz de compaixão, capaz de amor, capaz de respeito
pelo outro, capaz de ter um sentido de dignidade profunda na sua relação com os
outros, capaz de reconhecer a debilidade do ser humano, capaz de compreender,
sobretudo isto, capaz de compreender.
Bom. Sobre o Ensaio sobre a Cegueira
não direi mais, e passo ao último livro que ninguém aqui conhece salvo os
portugueses, algum dos que aqui estão, e que se chama Todos os Nomes. É um
romance, tal como todos os outros, um romance não esperado, é um romance
in-esperado, e que nasce duma circunstância pessoal da minha vida pessoal,
também da minha vida literária, que é, tendo eu um projecto que já vai bastante
adiantado, mas que não sei quando é que o terminarei de escrever, uma
autobiografia minha que se chamará O Livro das Tentações . Em todo o caso,
tenho que dizer que é uma autobiografia um pouco peculiar uma vez que é uma
autobiografia até aos catorze anos. Quer dizer, ao contrário do que é normal,
as autobiografias geralmente são das pessoas quando já são adultas famosas, e
tudo isso, não, o que eu quero saber, quero reconstituir, evidentemente, pela
memória, quem é que eu fui, que criança é que eu fui. E quando eu acabar de
descrever tudo isto até aos quatorze anos o livro acaba, é isso que me
interessa. Eu digo às vezes que há, que não seria capaz de imaginar nada tão
magnífico como se fosse possível nós irmos pela vida ao longo de toda a nossa
vida levando pela mão a criança que fomos. Imaginemos que cada um de nós teria
de ser sempre dois, que passaríamos a ir na rua e que nenhuma das pessoas que
passam ali, nós e todos os outros, nenhum iria só. Levaria pela mão uma
criança, de oito anos, sete anos, como se queira, e essa criança seria essa
pessoa. Por isso é que eu digo, e será a epígrafe desse Livro das Tentações,
que diz isto assim, Deixa-te guiar pela criança que foste.
Eu acho que se nós fôssemos pela vida
levados pela mão, não levando pela mão, mas levados pela mão, da criança que
fomos, que algumas coisas más talvez não fizéssemos, que quando fôssemos
tentados a cometer uma deslealdade ou qualquer coisa dessas coisas feias que
fazemos que a criança que nós fomos nos puxaria pela manga e diria, Não faças
isso. Isto evidentemente são fantasias de escritor, que para isso é que eles
são escritores, mas que ao mesmo tempo, pelo menos tal como eu vejo, tal como
eu entendo, contêm aquilo a que eu chamaria com alguma pretensão uma filosofia
de vida. Ora bem, foi na preparação deste livro que eu tive de fazer menção a
um irmão que eu tive mais velho que eu dois anos e que morreu quando ele tinha
quatro e portanto quando eu tinha dois. Não o recordo, não tenho, às vezes
parece-me que sim, mas são evidentemente falsas memórias, eu só tinha dois
anos, menos do que isso. Mas, enfim, uma vez que eu ia falar da minha própria
vida, tinha de dizer, pois, Quando eu cheguei cá já havia, Quando eu entrei
neste mundo já havia na família outra criança, portanto, tinha de falar dela,
evidentemente. As informações que eu tinha sobre ele eram escassas, muito
escassas. Então pedi ao Registo Civil, à Conservatória do Registo Civil da
aldeia onde nós nascemos que me enviasse enfim uma certidão de nascimento,
aquilo a que em Espanha se chama a partida de nascimiento. Enviaram-ma depois
de uma pesquisa fácil, porque a aldeia era muito pequena, portanto era fácil
encontrar esses registos, enviaram-me esse documento e eu encontro-me diante da
maior surpresa da minha vida, é que esse irmão de quem eu finalmente passava a
saber alguma coisa de concreto, data de nascimento, tudo isso, essas coisas,
devia haver ali a indicação de que ele tinha morrido e não estava indicado que
ele tinha morrido, portanto, diante desse documento, o meu irmão estava vivo,
eu porém sabia que ele tinha morrido. Continuo a fazer pesquisas no hospital
onde segundo os meus pais ele tinha falecido e do hospital dizem-me que não
senhor, que nunca tinha entrado nesse hospital. Continua o mistério, que acaba
numa pesquisa nos arquivos dos oito cemitérios de Lisboa até que finalmente
encontrei data de nascimento data de tudo, enfim, a data do falecimento, morreu
efectivamente no hospital que dizia que ele não tinha lá estado, enfim
confusões da burocracia administrativa. Mas a questão que se põe agora é esta,
é saber o que é que eu faço daquilo que só eu sei, informo o registo civil da
minha aldeia de que o meu irmão morreu, para que eles actualizem os seus
registos? ou, pelo contrário, não informo? se informo, a questão fica arrumada
portanto o meu irmão Francisco passa a estar em ordem, mas se eu não disser
nada, daqui por duzentos ou trezentos ou quatrocentos anos um funcionário do
Registo Civil da aldeia provavelmente dirá, O que é que se passa com este
senhor que já tem trezentos e cinquenta quatro anos e ainda não morreu? neste
momento estou tentado a deixar que as coisas fiquem como estão. Quer dizer, se
eu, do ponto de vista ou menos da burocracia, posso prolongar a vida ao meu
irmão, pois então ele vai continuar vivo, e isto tem que ver agora com Todos os
Nomes, nada desta história familiar passou para o romance mas o romance não
existiria se eu não tivesse que andar à procura do que aconteceu ao meu irmão
Francisco. Todos os Nomes é uma conservatória do registo civil onde estão todos
os nomes, os nomes dos mortos e dos vivos, há também um cemitério onde não
estão ainda todos os nomes, mas onde todos os nomes virão a estar. E é a busca
de alguém, outra vez a busca do outro, alguém que é uma mulher, que não será
encontrada nunca. E é a necessidade de encontrar o outro, de procurá-lo, é um
funcionário também ele humilde, uma espécie de irmão, eu diria quase um irmão
do Raimundo Silva da História do Cerco de Lisboa, são, os dois, funcionários,
estão ali com papéis trabalhando sobre papéis mas são pessoas que passam dos
papéis às pessoas, são pessoas que não passaram das pessoas aos papéis, como
acontece tanto com os escritores que deixam as pessoas para passar aos papéis.
E este livro que é, eu tenho dito algumas vezes uma coisa que vos parecerá um
pouco insólita, que é dizer que, quando eu escrevi O Evangelho segundo Jesus
Cristo era demasiado jovem para escrever o Ensaio sobre a Cegueira e só há dois
anos de diferença entre o Ensaio sobre a Cegueira e O Evangelho segundo Jesus
Cristo, mas eu acho que sim, que era demasiado jovem para escrever o Ensaio
sobre a Cegueira., mas também quando eu escrevi oEnsaio sobre a Cegueira era
demasiado jovem para poder escreverTodos os Nomes. Evidentemente cada leitor
terá a sua opinião, mas eu acho sinceramente que Todos os nomes é o meu melhor
livro e ainda bem que eu acho isso, não?, imaginem que eu suspeitava que era o
pior, que situação tão desagradável, não, acho que há uma espécie de caminho
para o essencial, que volto outra vez à metáfora anterior da estátua e da
pedra. É como se eu tivesse abandonado essa descrição que pode, e que eu acho
que sim, enfim, que pode resultar em livros, em bons livros, eu penso que sim,
penso que os livros que escrevi até agora são bons, pelo menos não são maus, há
quem diga até que são muito bons e eu, como se deve calcular, tendo a estar
mais de acordo com os que dizem que eles são muito bons do que com as outras
pessoas que porventura digam que não são tão bons assim e nesta ideia de que
pelo menos não é mau e muito menos o pior de todos, há qualquer coisa que para
mim está muito clara. É que tentei e creio tê-lo conseguido penetrar mais
profundamente na pedra do que até então tinha conseguido. O Ensaio sobre a
Cegueira é qualquer coisa que se passa numa sociedade ou num mundo ou numa
capital do mundo ou onde quer que seja. Eu vejo mais essa epidemia de cegueira
como qualquer coisa que cobre e leva à escuridão toda a gente. Em Todos os
Nomes o universo passa a ser o espírito de uma pessoa nessa necessidade de
encontrar outra pessoa, é uma vez mais o objecto dessa busca. Como eu disse
antes, é essa mulher que não se encontrará e é essa espécie de necessidade
outra vez que está latente de uma forma ou outra em todos os meus livros anteriores,
que está latente e que é isto, a morte definitiva é o esquecimento, essa é que
é a verdadeira morte. Se nós lograrmos não esquecer, se conseguirmos não
esquecer embora por outro lado saibamos que não é possível guardar a memória de
tudo, mas se tivermos essa ideia de que ao esquecer estamos a matar
definitivamente essa ideia de todos os nomes, todos os nomes, todos os nomes
que nós temos e tivemos, todos os nomes que temos, os que estamos vivos, todos
os nomes que tiveram aqueles que viveram antes de nós, Se quando dizemos todos
os nomes pensarmos em todos os nomes, estamos a pensar em todas as pessoas com
esta convicção que enquanto a memória mantiver a imagem, o acto, o olhar, a
palavra de quem viveu antes de nós, essa pessoa continuará viva.
Eu contava a um português, que é uma
portuguesa, contava-lhe aqui há poucos dias um episódio, dois episódios que têm
que ver com a minha vida porque têm que ver com a vida de duas pessoas muito
queridas, os meus avós maternos, e eu contava que esses meus avós viviam de
criar porcos, o meu avô era pastor, a minha avó cuidava da casa e evidentemente
trabalhava no campo, eram gente muito pobre, numa casa paupérrima onde o frio
no inverno não se aguentava, o chão era de barro e eles enfim criavam porcos
pequenos, claro, depois vendiam-nos, enfim, era disso que viviam. E havia
ocasiões no fim do inverno, invernos muito duros muito frios, em que, para não
perder aquilo que era o alimento, o sustento da sua vida, eles o levavam para a
cama, o meu avô e a minha avó levavam para a cama deles os dois ou três ou
quatro porcos pequenos mais débeis, que estariam mais fracos. Se ficassem fora,
o frio poderia matá-los e eles agarravam neles e levavam-nos para a cama.
Provavelmente os outros, muitos, fizeram o mesmo no mundo, e não sei se na
Itália o fazem ainda, não agora porque o tempo começa a estar bom, mas sei lá
se outra gente que viva da mesma maneira não terá feito isto. Portanto eu
ponho-me a pensar naqueles dois velhos, que já o eram então, cobertos com a
roupa da cama com a manta e os três ou quatro porquitos no meio deles
aquecendo-se ao calor dos humanos. Este, é um pequeno episódio. Há porém outro
episódio e depois, quando eu o acabar, já não direi mais nada, porque, quando
eu tiver contado também esta pequena história, então eu terei a consciência de
que entrei na pedra até ao mais profundo dela e espero que o mesmo aconteça a
cada um de vós. O meu avô Jerónimo, que assim se chamava ele, aí pelos seus
setenta e dois, setenta e três anos, teve um acidente vascular cerebral que
começou por não parecer muito grave mas que enfim levou a que o trouxessem lá
da aldeia para Lisboa a fim de ser tratado, numa tentativa para remediar aquilo
que de certo modo já era irremediável. Já vos descrevi a casa deles. Tinha um
pequeno quintal com umas quantas árvores, as pocilgas onde estavam os porcos, o
galinheiro com as galinhas, os coelhos, essas coisas das aldeias e tinham um
pequeno bocado de chão, um quintal onde havia umas quantas árvores, umas
oliveiras, umas figueiras, umas romãzeiras, enfim, umas árvores, aquilo que se
vê em qualquer parte. Então o meu avô, quando a carroça estava à porta, a
carroça que o havia de levar à estação do caminho de ferro, sete quilómetros
afastada da aldeia, o meu avô foi ao quintal e foi-se despedir de todas as
árvores abraçando-se a cada uma e chorando, este velho rude, analfabeto, tinha
dentro de si um tesouro de sensibilidade tal que, prevendo que não voltaria à
sua casa, nem à sua aldeia, nem à sua vida, foi despedir-se de seres com quem
nunca falou, de seres que não falam, que parece que não sentem, mas ele, sim
ele que falava, que sentia, reconhecia naquelas árvores aquilo que era, que
tinha sido para ele a vida e de tal forma e a tal ponto que se despediu de cada
uma delas como se despediria dos filhos ou dos irmãos se os tivesse ou dos
netos. Quer dizer, aquele que não separa a vida, aquele que não separa da vida,
vive, aquele para quem a vida é a vida.
Ora bem, o neto que eu sou, que com
esta idade continua a ver-se a si mesmo como neto desses avós quando fala deles
e quando escreve sobre eles está a impedir a morte definitiva, e chegar a isto
é tentar chegar ao interior da pedra.
Muito obrigado.
Nenhum comentário:
Postar um comentário