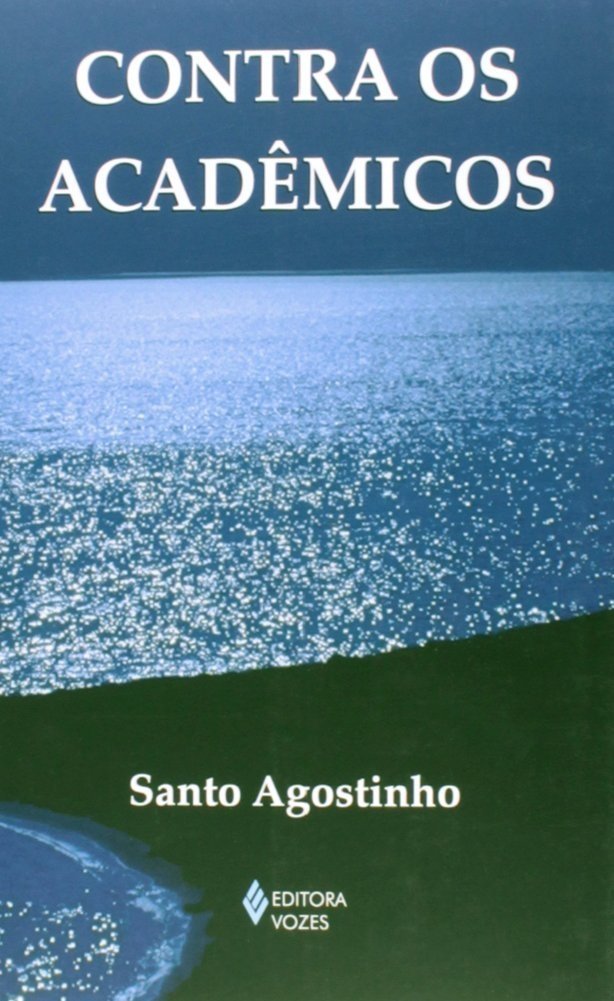Dizia Eduardo Galeano que 'a história é um profeta com olhar voltado para trás: pelo que foi, e contra o que foi, anuncia o que será'. Atribua-se aí, na medida certa, uma dose de relatividade, para evitar que a ciência história caia no positivismo. Ressalvado isto, ela de fato 'tem algo a dizer sobre o futuro', usando aqui a expressão de Eric Hobsbawm. E, assim, nem sempre é portadora de boas notícias. Salvo uma inversão de marcha, é o caso do tempo presente, desse tempo que estamos a viver. Já não são poucos os que, em decorrência dos desdobramentos no Médio Oriente, vislumbram uma nova guerra total entre as superpotências, a III Guerra Mundial. De outra parte, pelo Brasil, vai-se dando a contribuição para o clima de beligerância, com discursos, por exemplo, próprios do período da 'guerra fria' (a propósito, recentemente, uma conhecida advogada chegou a pronunciar o disparate segundo o qual a 'Rússia está para invadir o Brasil a partir da Venezuela'). Tempos de intolerância e de ódio, mas eis o contraditório reverso da medalha: muitos não conhecem o objeto da sua intolerância e do seu ódio. Na verdade, são prisioneiros da ignorância. Sem desconsiderar que há quem a finja. Pus-me a pensar sobre essas questões ao assistir (novamente) o histórico filme 'Ó Jerusalém'. Por quê? As razões estão aí abaixo.

Por Sérgio Vaz
(http://50anosdefilmes.com.br/2012/o-jerusalem-o-jerusalem/)
Ó Jerusalém é um
filme raro, singular. Não tanto por suas qualidades especificamente
cinematográficas, mas pelo que diz, e como diz. É uma obra extraordinária por
causa das idéias, da postura política. Aborda um dos
temas mais difíceis que há – a convivência entre árabes e judeus –, retrata o
nascimento do Estado de Israel, sem tomar partido de nenhum dos dois lados.
Isso é absolutamente notável, impressionante.
Ao longo de todo o filme, não fica claro se ele foi feito
por um israelense ou por um árabe.
Ó Jerusalém consegue
o virtualmente impossível: mostra as razões de cada um dos lados, os argumentos
de uns e de outros, as atrocidades cometidas por judeus e por árabes.
Ao fim e ao cabo, o diretor Élie Chouraqui e sua equipe
demonstram que a arte consegue proezas de que a humanidade, na vida real, não é
capaz.
Élie Chouraqui – vejo agora, depois de ter visto o filme
– é francês de Paris; tem a minha idade, nasceu em 1950. É judeu.
Seu filme é uma co-produção
França-Inglaterra-Itália-Grécia-Estados Unidos-Israel. Os créditos finais
mostram uma maravilhosa, esplêndida babel, uma assembléia das Nações Unidas –
entre os atores e as equipes técnicas, há gente das mais diversas
nacionalidades.
Não sei o que podem ter achado de Ó Jerusalém os
israelenses, os judeus do mundo inteiro e os árabes. É bem possível que muitos
árabes tenham achado o filme pró-Israel, e que muitos judeus o tenham tachado
de pró-árabes.
Não é nem uma coisa nem outra, na minha opinião. É um
filme feito por gente believer, que
acredita na possibilidade de que, um dia, possa haver paz.
Os incréus, cínicos de todas as categorias, poderiam
dizer que é um filme ingênuo.
As primeiras imagens, após os créditos iniciais, são
cenas documentais, de cinejornalismo, em preto-e-branco, é claro, de
comemorações pelo fim da Segunda Guerra Mundial.
Em seguida vemos um grupo de jovens, estreando o carro
usado comprado por um deles. Um letreiro informa: Nova York, 17 de novembro de
1946.
Letreiros assim aparecerão ao longo de toda a narrativa,
identificando o local e a data do que se mostra. Facilita a compreensão do
espectador, e ao mesmo tempo dá um tom de veracidade à narrativa. Veremos
depois que Ó Jerusalém é
assim como um romance histórico: usa fatos e personalidades reais misturados
aos personagens fictícios criados pelo diretor Élie Chouraqui e seu
co-roteirista Didier Le Pêcheur.
No grupo que estréia o carro comprado há pouco, numa rua
de Nova York, há uma garota e dois jovens, aí na faixa de uns 25 anos. Os dois
são judeus nova-iorquinos: Bobby (JJ Feild) e Jacob (Mel Raido). O carro de
Jacob custa a pegar – e, quando pega, o rádio começa a dar informações sobre um
atentado terrorista que acabara que acontecer em Jerusalém. Num ataque do
Irgun, o grupo terrorista de extrema direita judeu, contra um hotel ocupado por
oficiais britânicos, 90 pessoas haviam morrido.
Mas logo o motor do carro pára novamente, o rádio
silencia, e Bobby sai correndo em direção a um clube ali perto para ouvir mais
notícias sobre a atentado. Ao sair de um beco e entrar numa rua movimentada, é
atropelado por um carro. Não se machuca, e levanta querendo brigar com o
motorista, que havia descido do seu carro para atender o outro. Discutem um
pouco, acabam entrando juntos no carro, apresentam-se – o motorista, Saïd (Saïd
Taghmaoui), é árabe, criado em Jerusalém; está há pouco tempo nos Estados
Unidos.
Ficam instantaneamente amigos, o árabe Saïd e o
judeu Bobby (os
dois na foto abaixo).
Veremos que Bobby é um pacifista. Não tem ódio dos árabes
– e Saïd é como ele, não tem ódio dos judeus. Ao contrário: ele e sua família
sempre se deram bem com os vizinhos judeus em Jerusalém.
Jacob é bem mais rigoroso do que o amigo Bobby. É dele,
antes de Bobby, a idéia de ir para a Palestina, para, em caso de conflito,
combater contra os árabes.
Acabarão embarcando num navio os três, mais algumas
amigas, rumo a Tel Aviv.
Era para a ONU criar
dois Estados independentes; criou um só
Um locutor de cinejornal da época ajuda o espectador a
compreender a situação em 1947: por cinco séculos, a antiga Palestina havia
sido dominada pelo império turco-otomano. Nos últimos 26 anos, era um
protetorado britânico: militares britânicos mantinham a ordem no território
então ocupado por uma grande maioria árabe e uma minoria judia.
Em novembro de 1947, as Nações Unidas começam a discutir
a criação de dois Estados independentes na então Palestina – um árabe, e um
judeu.
Em 31 de janeiro de 1948, a assembléia geral da ONU
aprova a criação do Estado judeu.
O sentimento de antagonismo, de ódio entre judeus e
árabes vai crescendo a cada momento. Os ingleses têm consciência de que, quando
deixarem o lugar, haverá uma guerra inevitável.
Quando Bobby e Saïd chegam
juntos a Jerusalém, são recebidos em festa pela família do árabe. De um terraço
na casa da família, os dois contemplam a cidade. Saïd mostra para o
nova-iorquino o local onde Cristo foi crucificado, o local em que o profeta Maomé
se elevou para o céu, o muro de lamentações construído pelo rei Salomão – as
três grandes religiões do mundo ocidental têm raízes naquela cidade. O árabe
diz para o judeu:
– “Se Deus não está aqui, Bobby, então não está em lugar
algum.”
E então pergunta se o amigo sabe o significado da palavra
Jerusalém em hebraico. Cidade da paz.
O filme mostra a cidade da paz cada vez mais mergulhada
na guerra. Bobby se aproximará de líderes judeus, inclusive o maior de todos,
David Ben Gurion (interpretado pelo grande ator inglês Sir Ian Holm, com uma
notável semelhança física com o fundador do Estado de Israel). E Saïd também
acabará se tornando uma peça importante do lado árabe da guerra.