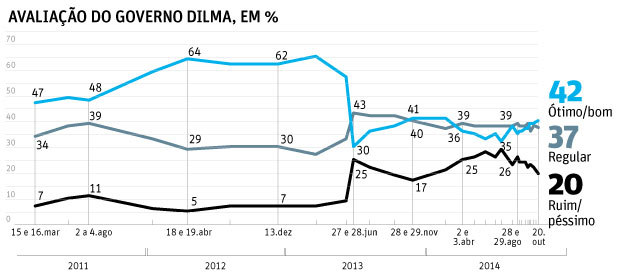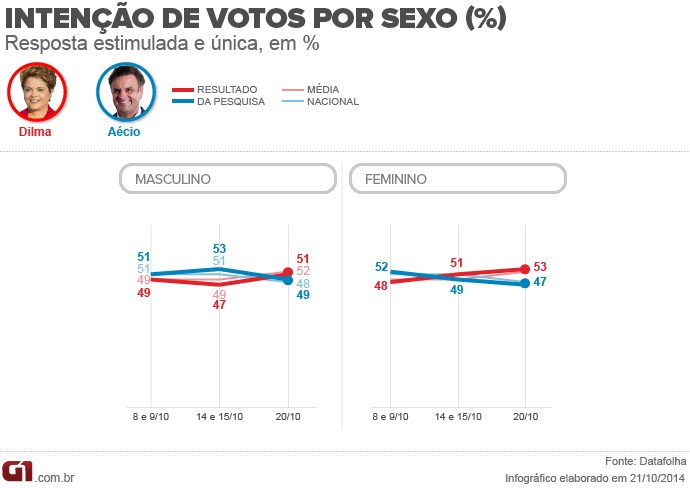Por Lauane Baroncelli
University College Cork, Cork, Ireland
O ciúme é um tema antigo e recorrente nos discursos sobre os relacionamentos humanos. No escopo artístico, o amor e os dilemas do ciúme foram muitas vezes capturados e em seguida revelados ao mundo nos mitos, tragédias, dramas, bem como em obras de literatura, dança e pintura, algumas das quais se tornaram célebres e imortais. É o caso, por exemplo, de Otelo, de Shakespeare, em que o ciúme é metaforizado pelo autor na imagem de um monstro de olhos verdes que cega o personagem do título e causa a morte da doce Desdêmona, sua esposa. Também no Brasil, na literatura do final do século XIX, o ciúme aparece em uma das obras mais conhecidas de nosso imortal escritor, Machado de Assis, o romance Dom Casmurro. Poderíamos citar muitos outros exemplos literários que giram em torno do tema, não apenas em textos clássicos do passado, que permanecem no imaginário cultural até os dias de hoje, como também em obras mais recentes.
Parece, assim, que o ciúme não é uma experiência contemporânea. Ao contrário, ele é um sentimento antigo, atemporal, que atravessa diferentes épocas e contextos. Os registros históricos que retratam a forma pela qual o amor e o ciúme foram concebidos ao longo do tempo constatam sua inserção histórica e seu caráter mutável de acordo com o contexto ao qual estão referidos (Ariès & Bejin, 1986; Del Priore, 2005; Lázaro, 1996, entre outros).
Um aspecto revelador da condição histórica do ciúme se expressa nos diversos códigos e prerrogativas sociais que atuam sobre a infidelidade do homem e da mulher de acordo com as desigualdades de gênero inerentes a cada época. Conforme diversos autores observam (Branden, 1998; Foucault, 1993; Freyre, 1977; Lázaro, 1996; Yalom, 2002), em vários períodos da história a infidelidade do homem deveria ser aceita ou ao menos tolerada pela mulher, ao passo que uma traição feminina podia levar, em alguns contextos, à perseguição, abandono ou até à morte. Com isso, a manifestação de ciúme, sua aceitação social e a própria experiência de ciúmes no interior das relações amorosas entre o homem e a mulher foi, ao longo do tempo, necessariamente marcada pelas especificidades de cada contorno sociocultural no que diz respeito à fidelidade.
Neste artigo, aborda-se o ciúme diante das interferências do contexto contemporâneo, discutindo o modo como as transformações históricas que caracterizam a nossa época podem atravessar essa experiência, dotando-a de significados particulares.
Pelo fato de o nosso interesse se dirigir, aqui, ao campo psicossociológico, não nos preocuparemos em aprofundar a discussão conceitual sobre o ciúme. Essa discussão já tem sido largamente realizada na literatura existente sobre a questão (Cavalcante, 1997; Ferreira-Santos, 1996; Pines, 1992; White & Mullen, 1989). Mas, para introduzir o debate, precisamos esclarecer que operamos nossas análises sobre aquela espécie de ciúme que gera, de forma significativa, algum grau de sofrimento pessoal e interpessoal para o indivíduo e seu parceiro amoroso. Esse sofrimento está vinculado a uma rígida desconfiança de infidelidade do parceiro, nem sempre relacionado a situações reais de ameaça.
O flexível amor na contemporaneidade
A partir de meados do século XX, a "civilização moderna industrial", assentada na produção e em máquinas cada vez mais sofisticadas, começa a se transformar, progressivamente, numa sociedade pós-industrial, mobilizada pelo consumo e pela informação (Santos, 1996). Neste contexto de transformação capitalista, a cultura também foi afetada e, com ela, o domínio da experiência social contemporânea materializada na vida cotidiana.
Conforme a análise de autores como Bauman (2003), Giddens (2002) e Hall (2003), com o aparecimento e a propagação dos meios eletrônicos de comunicação e a consequente articulação entre partes do mundo geograficamente distantes, os aspectos locais e globais da existência passam a interagir, e às certezas tradicionais são acrescentadas influências advindas de diversas direções.
Com essa afirmação, não pretendemos ignorar que aquilo que denominamos de "experiência social contemporânea" encontra exceções e, até mesmo, tendências contrárias em alguns grupos culturais específicos. Entretanto, vamos tratar aqui daqueles grupos e sociedades que estão mais distintamente sob o domínio e a égide dessas mudanças globais que caracterizam a contemporaneidade, algo que ocorre, prioritariamente, nas camadas urbanas industrializadas das sociedades ocidentais, principalmente a partir de meados do séc. XX.
Após os conturbados anos de 1960, tendo a humanidade vivido a experiência de duas grandes guerras, ideias que tinham a pretensão de universalidade começam a perder a consistência e a credibilidade que tinham na modernidade, tornando-se relativizáveis (Hall, 2003; Vaitsman, 1994).
Segundo Hall (2003), num universo marcado por tal questionamento de normativos universais, as antigas identidade fixas e essenciais diluem-se. O sujeito assume, portanto, identidades móveis e fragmentadas, muitas vezes contraditórias (Hall, 2003, p. 12). Tal processo seria decorrente, segundo Hall, da emergência de novas identidades trazidas na esteira dos movimentos raciais, feministas e de libertação nacional, trazidos na esteira dos movimentos de contracultura na década de 1960 (Hall, 2003, p. 21).
Conforme Vaitsman (1994), tais movimentos atacavam, por diversas frentes, atributos que consideravam o mundo elitista e autocrático da Modernidade. Na luta contra formas variadas de opressão - raciais, sexuais, étnicas -, a dominação subjacente à ideia de razão universal do mundo moderno era fortemente denunciada. Ou seja, se a Modernidade promulgava um indivíduo livre e igual, dotado de razão e capacidade para apropriar-se das coisas da natureza, tais movimentos denunciavam, por detrás dessa pretensa universalidade, a dominância, por vezes opressiva, de determinados segmentos e categorias sociais particulares sobre outros (Rocha-Coutinho, 1996; Vaitsman, 1994). No plano das relações amorosas e da família, por exemplo, certezas relativas aos papéis de gênero eram baseadas, durante o período moderno, numa visão essencial dos sexos. Tradicionalmente, a individualidade feminina era tomada como valor determinado, devendo manifestar sua essência como mãe e esposa. Somente a partir da ruptura da dicotomia entre público e privado, materializada na participação das mulheres no mundo do trabalho, é que tais normas tradicionais sobre os papéis sexuais no casamento e na família são, finalmente, questionadas (Vaitsman, 1994).
A chamada "incredulidade em relação às metanarrativas", expressão cunhada por Lyotard (1979), é bastante reveladora da nova circunstância cultural em que todas as teorias que pretendiam dar conta, de maneira definitiva e totalizadora, do entendimento sobre a humanidade, são questionadas. Lyotard (1979) sustenta que a pós-modernidade dilui narrativas totalizadoras, enquanto narrativas múltiplas e alheias a qualquer legitimização universalizante passam a se impor, desafiando a segurança das sólidas regras nas quais a modernidade se pautava e que ajudavam a conformar a vida social (Pedro & Nobre, 2002-2003). No lugar da visão Iluminista que promulgava a substituição das superstições e dogmas da tradição pela certeza racional da ciência, o que se desenvolveu de fato, pelos próprios trâmites inerentes ao método científico, foi o impositivo da dúvida. A partir dele, todo conhecimento e conduta social recebem o status de hipótese (Lyotard, 1979).
Em campos os mais diversos, que vão da ciência à arte, à filosofia, à economia e à política, bem como nos relacionamentos amorosos entre homens e mulheres, a heterogeneidade, a abertura, a pluralidade, a flexibilidade, a instabilidade e a incerteza marcam a experiência humana (Vaitsman, 1994).
Refletindo, portanto, a perspectiva contemporânea, os diferentes modelos e padrões de relacionamentos amorosos convivem lado a lado, sem que haja um modelo dominante que, de maneira consistente, se sobreponha aos demais. Ao contrário, também no amor, diferentes códigos e modelos tendem a se misturar e coexistir, como casais casados e descasados, famílias adotivas, uniões liberais, uniões homossexuais, entre outros (Giddens, 2002). Além disso, o relacionamento amoroso torna-se uma experiência passível de repetição, mudança e de dissolução ao longo do tempo (Bauman, 2004). Torna-se cada vez mais comum as pessoas afirmarem terem tido vários amores ao longo da vida e, dificilmente, na contemporaneidade, alguém declara sem hesitação a crença na eternidade do vínculo amoroso.
Analisando a conformação histórica da nova condição do relacionamento a dois, diversos autores (Beck & Beck-Gernsheim, 1995; Giddens, 2003; Rocha-Coutinho, 1996; Vaitsman, 1994) observam que, com o mencionado questionamento da divisão sexual do trabalho começam a se estabelecer as condições para o surgimento de um relacionamento amoroso tal como ele é concebido na contemporaneidade. Nele, dois indivíduos livres e com direitos iguais vão se confrontar com expectativas e projetos pessoais que podem divergir (Vaitsman, 1994).
Além disso, a partir da década de 1960, critérios relativos à classe social, raça e etnia começaram a ter importância cada vez menor na escolha do parceiro amoroso. Surgiu a possibilidade de casais coabitarem e o tabu da virgindade também começou, pouco a pouco, a se dissolver (Del Priore, 2005; Yalom, 2002).
Como analisam Beck & Beck-Gernsheim (1995), num tempo em que o antigo absolutismo das regras tradicionais sobre a vida amorosa - materializado nas apriorísticas e predeterminadas fases de namoro, noivado, casamento, sexo, filhos e morte - é questionado, a intimidade amorosa passa a se desenrolar num terreno muito mais aberto e, por isso, desafiador.
Cria-se um cenário propício para o estabelecimento daquilo que Giddens denominou "relação pura" (Giddens, 2002, p. 86). Homens e mulheres são vistos agora em bases iguais e devem, com a maior liberdade possível, escolher com quem irão se envolver amorosamente, bem como definir a forma do relacionamento, sua manutenção ou dissolução. Rompe-se definitivamente com a antiga ideia de relacionamento em que ficava estabelecida sua organização e garantida sua durabilidade ao longo do tempo. Ao contrário, uma característica fundamental do relacionamento puro, postulado por Giddens (2002), é que ele admite qualquer organização - casais casados, co-habitação, relações "livres" etc. -, podendo também ser terminado, sem maiores restrições, em qualquer momento e por qualquer um dos parceiros.
Sem as antigas garantias da tradição que propiciavam previsibilidade e a manutenção do relacionamento no tempo, os parceiros de uma união amorosa precisam agora gerenciar a nova condição na qual o relacionamento a dois se torna, nas palavras de Giddens (2003, p. 87), "internamente referido". Isso quer dizer que, agora, o suporte do casal advém, prioritariamente, das características da parceria amorosa que eles próprios constroem, e não das antigas balizas da tradição que estabeleciam regras previsíveis para o relacionamento.
Dá-se, assim, a substituição dos relacionamentos apriorísticos do passado - praticamente isentos de projetos e escolhas pessoais, e recheados de sociabilidade comunitária - pelo domínio da opção pessoal, palco privilegiado das relações na contemporaneidade (Nolasco, 2001; Wittel, 2002). Isso não significa dizer que o momento atual esteja isento de elementos de sociabilidade comunitária. Na realidade, aspectos tradicionais persistem no domínio da intimidade amorosa, com mais importância, é verdade, em certos contextos que em outros. No entanto, a tendência contemporânea parece caminhar, explicitamente, para uma flexibilização desses condicionantes externos preexistentes ao relacionamento amoroso, que passa a sustentar-se, fundamentalmente, em si próprio.
Um casal que decide estabelecer um compromisso amoroso na atualidade ingressa, portanto, no campo da escolha, trazendo consigo todos os ganhos e riscos inerentes a esta nova posição. Sendo assim, praticamente não há mais a possibilidade de se permanecer numa experiência amorosa porque "assim se espera e deve ser". Ao permanecer nela, o casal o faz por ter assim decidido, e não mais em decorrência de leis de convivência social que estabeleciam, no passado, uma rota quase inabalável de conduta.
Como analisam Beck & Beck-Gernsheim (1995), na contemporaneidade, o relacionamento deve conferir felicidade e realização para o casal, o que conforma a experiência amorosa como um campo do qual se exige e se espera muito mais nos dias de hoje.
Longe do antigo, e por vezes entediante, conforto de ir seguindo o "rio da vida" e da relação, o casal precisa, agora, num rio de correntezas misturadas e concorrentes, determinar o curso que deseja seguir. Giddens (2003) analisa como, nesse contexto, habilidades emocionais como as concernentes aos domínios do diálogo, da negociação democrática, da expressão de sentimentos, da revelação de si e da capacidade de perceber o outro, dentre outras, passam a entrar definitivamente em questão.
Diversos teóricos (Bauman, 2004; Giddens, 2003; Plastino, 1996; Vaitsman, 1994) têm analisado, ainda, o modo pelo qual o amor contemporâneo passa a refletir, de forma ambígua, a lógica capitalista de mercado que se torna o centro da vida social.
Tais análises sugerem que, de maneira subjacente à liberdade promulgada pelo novo modo de produção capitalista e o individualismo que lhe é correlato, fins religiosos e tradicionais passaram a ter poder de influência diluído na cena social, ao mesmo tempo em que as leis do mercado tornaram-se o novo objetivo a ser alcançado. Por consequência, os indivíduos e suas relações interpessoais tornam-se potencialmente atravessadas e conformadas por tais leis. Nas palavras de Giddens (2002):
Os mercados operam sem consideração a formas preestabelecidas de comportamento, que em sua maior parte representam obstáculos à criação da livre troca ... Em maior ou menor grau o projeto do eu vai assim se traduzindo como a posse de bens desejados e a perseguição de estilos de vida artificialmente criados ... O consumo de bens sempre renovados torna-se em parte um substituto do desenvolvimento genuíno do eu. A aparência substitui a essência à medida que os signos visíveis do consumo de sucesso passam a superar na realidade os valores de uso dos próprios bens e serviços em questão (p. 183).
Diversos autores vêm analisando o processo pelo qual o mencionado "projeto do eu" torna-se permeado pelo consumo, de modo que os sujeitos, bem como seus relacionamentos, correm o risco de confundirem-se, em alguns aspectos, com a lógica das mercadorias (Bauman, 2004; Costa, 1998).
No campo das relações amorosas contemporâneas, Miller (1995) associa tal processo ao que ele denomina "terrorismo íntimo" (p. 74). A partir dessa metáfora, o autor explica como, frequentemente, casais contemporâneos, ao invés de estabelecerem um encontro com o outro, no qual a afirmação mútua retroalimente os envolvidos, constroem um padrão baseado na disputa pelo controle da relação e prevalência das ideias e desejos de cada um. Nesse sentido, ao invés de uma relação ou parceria, o que acaba se desenvolvendo é algo semelhante a uma "guerra a dois" em que, nos moldes da cultura capitalista de mercado, cada um luta por seus próprios interesses, sem conseguir efetivamente se comunicar com o outro.
O princípio de instantaneidade inerente à lógica consumista é então reencenado na experiência a dois e, na ausência de satisfação imediata, é provável que o descarte do relacionamento seja a atitude em vista (Bauman, 2004; Costa, 1998).
Segundo Harvie Ferguson (1996, citado por Bauman, 2001), o desejo deixa de ser, na fase atual do capitalismo avançado, o critério em torno do qual as práticas de consumo se organizam. Em seu lugar, impõe-se a pura vontade de consumir, um impulso mecânico que, ao invés de dirigir-se ao desejo de status, vaidade ou inveja é apoiado, sobretudo, em si mesmo.
Nessa lógica, satisfação e prazer não estão necessariamente pautados num desejo efetivo que, estando finalmente livre das repressões do passado, pode ser assumido e se desenvolver. Segundo Bauman (2004):
Dizer "desejo" talvez seja demais. É como num shopping: os consumidores hoje não compram para satisfazer um desejo, como observou Harvie Ferguson – compram por impulso. Semear, cultivar e alimentar o desejo leva tempo (um tempo insuportavelmente prolongado para os padrões de uma cultura que tem pavor em postergar, preferindo a satisfação instantânea). … Guiada pelo impulso ("seus olhos se cruzam na sala lotada"), a parceria sexual segue o padrão do shopping e não exige mais do que as habilidades de um consumidor médio, moderadamente experiente. Tal como outros bens de consumo, ela deve ser consumida instantaneamente (não requer maiores treinamentos nem uma preparação prolongada) e usada uma só vez, "sem preconceito". É, antes de mais nada, eminentemente descartável (pp. 26 -27).
A força e a aparente radicalidade das palavras e dos sentidos do texto de Bauman, longe de representarem, em nossa opinião, uma análise retórica daquilo que se desenvolve hoje no contexto das parcerias afetivo-sexuais, retratam aquilo que vivemos e presenciamos na cultura em nossos dias. Paradoxalmente, os indivíduos contemporâneos, ao mesmo tempo ávidos por buscarem companhia e se vincularem amorosamente, parecem viciados na velocidade e nos signos do consumo, sendo, por vezes, maquinalmente levados pelas regras, modelos e padrões mercadológicos, coisificando a si mesmos e aos outros sem se darem conta disso.
Nessa lógica, enquanto a sexualidade "usada uma só vez, sem preconceito" é uma expressão natural da liberdade tão valorizada na contemporaneidade, experiências duradouras, que envolvem um investimento situado para além da ordem do impulso, tornam-se marcadas por um misto contraditório de anseio e descrença.
Revelando tais contradições, a ênfase contemporânea na intimidade como espaço privilegiado para a realização individual transforma o amor numa espécie de método para o alcance da felicidade (Beck & Beck-Gernsheim, 1995; Giddens, 2003). Lázaro (1996) acrescenta que, entretanto, quando tal experiência não oferece soluções tão imediatas quanto o sexo, implicando, ao invés disso, uma necessidade de riqueza interior que possibilite o controle emocional da vida a dois, o relacionamento amoroso corre o rico de transformar-se num projeto que está eternamente recomeçando, numa eterna busca pela felicidade prometida.
Abertura, pluralidade e extremismo da paixão: em busca de uma compreensão do ciúme na contemporaneidade
Um contexto cultural que, como vimos até aqui, questiona referências tradicionais, penetra ambiguamente na experiência social. Por um lado, libera o indivíduo de uma vinculação engessada com o coletivo, potencializando posturas mais autônomas e criativas; por outro, o distancia da segurança das regras culturais generalizantes, forçando-o - algumas vezes, sem que possua condições para tal - a se guiar sozinho. Diante desta nova exigência de autonomia e autofundação, não raro, a depender das vicissitudes de cada experiência particular, sofrimentos e ambiguidades podem ser desencadeados (Beck & Beck- Gernsheim, 1995; Dufour, 2001), como é o caso do ciúme.
Giddens (2002) aponta que, em circunstâncias de abertura dos autossustentados relacionamentos amorosos contemporâneos, a confiança possui um papel fundamental: é ela que possibilita para os sujeitos o sentimento de proteção necessário para o envolvimento numa relação amorosa que não segue mais um curso predeterminado pelas obrigações tradicionais. Sem o sentimento de confiança, o indivíduo tende a se sentir vulnerável diante da realidade cotidiana de um compromisso amoroso, amedrontado com a possibilidade, sempre presente, de dissolução do mesmo e, ainda, com a responsabilidade que possui em sua manutenção e desenvolvimento. Munido desse sentimento, adquire um sentido de segurança ontológica que permite "pôr entre parêntesis" (Giddens, 2002, p. 52) possíveis contingências que possam afetar seu relacionamento amoroso no futuro, conseguindo envolver-se numa experiência em que as características de abertura e flexibilidade são os princípios fundamentais.
Esta espécie de fé pode parecer, contudo, uma exigência alta demais para alguns indivíduos que, aos serem liberados das referências que outrora os ajudavam a definir os relacionamentos amorosos, e entregues a relacionamentos abertos e dinâmicos como os que caracterizam a contemporaneidade, podem encontrar-se mais inseguros do que liberados para uma intimidade amorosa enriquecedora (Bauman, 2004).
De maneira menos otimista que Giddens, Bauman (2004) mostra-se pouco propenso a acreditar que a confiança possa desenvolver-se de modo a sustentar os "relacionamentos puros" dos indivíduos na contemporaneidade. A vida amorosa contemporânea, segundo o autor, além da pureza, no sentido atribuído por Giddens, reflete os valores de uma lógica consumista de mercado, na qual o descarte da relação em busca de outra que prometa mais satisfação, prazer e menos esforço é uma possibilidade cada vez mais presente na experiência dos casais.
Bauman (2004) argumenta, ainda, que a confiança precisa ser construída pelo casal no interior de um relacionamento que envolve dedicação, compromisso mútuo e saúde psicológica de cada parceiro, de maneira que o sentido da relação seja construído e reafirmado cotidianamente. Porém, ainda segundo o autor, no interior de uma lógica cultural do consumo, a dedicação necessária à construção da confiança pode representar um preço demasiado, que nem todos estariam dispostos e nem mesmo em condições de pagar.
Independentemente do ponto de vista adotado, para relacionar-se amorosamente na contemporaneidade, os indivíduos precisam, de algum modo, conviver com a autonomia e a leveza de uma relação que se torna um "contrato somente até nova ordem" (Giddens, 2002, p. 23), marcada pelas dimensões do risco e da incerteza.
Nesse ponto, podemos pensar que o ciúme das relações amorosas contemporâneas pode representar a circunstância na qual a insegurança toma a cena a dois e o relacionamento se transforma numa empresa conflitiva e arriscada na qual a confiança é justamente uma das questões mais difíceis de serem resolvidas. Assim, num mundo tão aberto em que a continuidade do relacionamento amoroso é somente uma possibilidade dentre outras, a desconfiança do ciumento pode ser uma estratégia de esquiva diante da ansiedade despertada por um mundo lançado ao arriscado reino da opção. Considerando-se ainda o fato de que tais indivíduos se constituem num cenário cultural onde os propósitos pessoais refletem os fugazes princípios do consumo, o contato genuíno com o outro, base fundamental para uma relação baseada em confiança, é posto em cheque.
O próprio Giddens (2002), apesar de apostar na construção de um compromisso pautado em confiança nos tempos atuais, analisa que a intimidade, condição principal da estabilidade contemporânea nos relacionamentos, só é alcançada pelo esforço pessoal de indivíduos seguros de suas próprias autoidentidades. A intimidade e, consequentemente, a confiança, supõem a capacidade de uma abertura e de um contato mais profundo com o outro, num "equilíbrio de autonomia e revelação mútua necessárias para sustentar trocas íntimas" (Giddens, 2002, p. 93), o que, por sua vez, depende de "um trabalho psicológico" (Giddens, 2002, p. 92) que não é necessariamente fácil de ser realizado por todas as pessoas.
No ciúme, a problemática se revela através de um comportamento em que, num contexto de múltiplas possibilidades, o relacionamento passa a ser sentido, simultaneamente, como a tábua de salvação e como um agravante do medo e da ansiedade.
Dessa forma, diante da falta de proteção e do risco envolvidos numa "relação pura", se o imaginário social indica que, no lugar do amor eterno do passado, hoje qualquer coisa pode acontecer, principalmente o fim do amor, é compreensível que alguns indivíduos busquem num controle ciumento da relação uma resposta possível. Com isso, polariza-se: deixa de haver individualidade, liberdade e diferença na relação, ou, pelo menos, tenta-se ignorar que haja, na medida em que se tenta fazer de si uma sombra do outro. Para tanto, busca-se saber onde o parceiro está, com quem e como, conhecer tudo sobre seu passado, investigar o seu presente e controlar o seu futuro. Constrói-se, dessa forma, uma relação em que não se é mais ninguém sozinho, em que se é dependente e indissoluvelmente ligado ao outro, numa oposição clara à liberdade e fluidez que marcam a experiência amorosa contemporânea.
De modo congruente com essas reflexões, Bauman (2004), assinala que:
Quando a insegurança sobe a bordo, perde-se a confiança, a ponderação e a estabilidade da navegação. À deriva, a frágil balsa do relacionamento oscila entre as duas rochas nas quais muitas parcerias se esbarram: a submissão e o poder absolutos, a aceitação humilde e a conquista arrogante, destruindo a própria autonomia e sufocando a do parceiro. Chocar-se contra uma dessas rochas afundaria até mesmo uma boa embarcação com tripulação qualificada. O que dizer de uma balsa com um marinheiro inexperiente que, criado na era dos acessórios, nunca teve a oportunidade de aprender a arte dos reparos? Nenhum marinheiro atualizado perderia tempo consertando uma peça sem condições para a navegação, preferindo trocá-la por outra sobressalente. Mas na balsa do relacionamento não há peças sobressalentes (p. 31).
A partir dessa apreciação da situação das relações amorosas na atualidade, podemos pensar que as conquistas históricas de liberdade e abertura nos relacionamentos contemporâneos, como vínhamos descrevendo, geram novos desafios. Assim, na contemporaneidade, o indivíduo corre o risco de não saber muito bem o que fazer com a liberdade conquistada e, sem referências sociais consistentes para além da lógica imediatista do consumo, pode acabar desbancando para um individualismo extremo que acabe se chocando frontalmente com os anseios, igualmente presentes, de cumplicidade, proteção e compromisso. Diante disso, soluções que mesclam "a submissão e o poder absolutos, a aceitação humilde e a conquista arrogante" (Bauman, 2004, p. 31) podem emergir em uma resposta extrema que, no caso do ciúme, frequentemente se baseia numa fantasia de dominação e controle do outro que tente fazer frente à situação ambígua e aberta que se enfrenta.
Num contexto de abertura, a relação amorosa contemporânea necessitará, segundo Bauman (2004), de vigilância e defesa para que se mantenha. No ciúme, porém, tal vigilância e defesa não se expressam no necessário monitoramento emocional da relação amorosa, sendo materializada no sentido mais escravizante do termo: o de eterna e minuciosa vigília e autoprotecão diante de uma situação tão aberta quanto ameaçadora.
Giddens (2002) vai sublinhar, na mesma direção da análise de Bauman, que a busca por um estilo de vida tradicional na contemporaneidade oferece sempre e, tão somente, uma segurança limitada. De fato, a tranquilidade que o ciumento adquire através de seu comportamento de busca por controle e domínio do outro e da relação possui um valor fugaz impossível de ser apreciado. Logo, antes mesmo de usufruir as respostas e confirmações para as suas duvidas e exigências, o indivíduo contemporâneo já está novamente ciente das condições flexíveis do amor em nosso tempo, o que pode ajudar a manter a ansiedade que se tenta tão dolorosamente evitar por meio do ciúme.
Além disso, num contexto em que, segundo a lógica cultural do capitalismo atual, acentua-se a volatilidade e efemeridade da moda, dos produtos, das informações, das ideias, serviços, valores e práticas estabelecidas, as pessoas passam a se descartar, de modo muito mais natural, não apenas de bens e produtos, mas também de estilos de vida e relações estáveis (Araújo, 2002; Bauman, 2004; Vaitsman, 1994).
Não é surpreendente, portanto, que um indivíduo que decida se envolver, atualmente, num relacionamento amoroso possa se sentir vulnerável, alguém que teme transformar-se no próximo produto antigo a ser posto em desuso. Nesse processo, pode sentir-se ameaçado tanto pelo prestígio de uma valorização explícita de um presente transitório quanto por um futuro posto em dúvida, reagindo através de cobranças e escravizações na dolorosa e inócua tentativa de produzir previsibilidade e controle.
Além de uma postura reativa à nova condição da experiência amorosa, o ciumento acaba materializando, vale sublinhar, uma postura que reproduz os princípios veiculados no contexto contemporâneo.
Segundo Lázaro (1996), a valorização da estética, signo privilegiado da cultura na contemporaneidade, é propagada de forma penetrante via mídia e outros dispositivos dos meios de comunicação em massa. Sendo conformada dentro dos modelos padronizados e preestabelecidos pelo mercado, passa então a repercutir, não raro, nas problemáticas amorosas através de um culto à imagem que se sobrepõe aos critérios espirituais e morais que também legitimam o desejo.
Tais virtudes da beleza em padrões massivos podem ser passivamente captadas e reproduzidas pelo ciumento que, na busca insaciável, e provavelmente inatingível, para atingir tais padrões, acaba mitigando a sua já frágil autoestima. Nesse caso, a competição - valor mercadológico que dá contorno às experiências sociais em nossa época - passa, não raro, a ser um princípio reproduzido no comportamento de ciúme, quando o individuo, numa busca minuciosa e comparativa de beleza, tenta superar nesse aspecto a si mesmo e aos outros.
A própria lógica do consumo é também materializada na conduta ciumenta em que o outro é tomado, frequentemente, como mais um objeto para posse, controle e uso exclusivistas. Com isso, a troca genuína na qual o outro é considerado em sua diferença e liberdade torna-se impraticável. Ao invés disso, no caminho da coisificação mercadológica do outro, a cada insatisfação (como quando, por exemplo, o parceiro retorna mais tarde do trabalho), o "consumidor" se sente no direito de exigir, sem demora e tolerância, total ressarcimento, desculpas e novas garantias.
Se o interesse daquele que sente ciúmes é manter o outro sob um jugo ordenado de acordo com seus "direitos de consumidor", não existe espaço para injustificáveis momentos e movimentos solitários, que se tornam munição certeira para mais ciúme e exigências confinantes. Em consequência, aquele que é alvo do ciúme, num movimento de contra-ataque e defesa, posiciona-se frequentemente no lado oposto, na luta pela própria individualidade, independência e discriminação de si. Nesse caso, longe de uma vida em comum, seus interesses são opostos: se um lado vence, o outro sai derrotado, o que torna impossível, a não ser num movimento de fusão que anularia irremediavelmente a diferença, vencerem juntos.
Considerações finais
As ambiguidades da vida contemporânea, enraizadas num contexto de incertezas, potencializam, como defendido por diversos autores (Bauman, 2004; Beck & Beck-Gernsheim, 1995; Dufour, 2001; Giddens, 2002; Lebrun, 2004), a abertura de um espaço propício aos extremismos. Assim, como vimos ao longo do artigo, diante de um mundo com possibilidades tão plurais e com tão frágeis e fugazes referências nas quais o indivíduo possa se assentar, comportamentos extremados - tal como o consumo de drogas, ligações com bandos e seitas as mais diversas, entre outros, como é o caso do ciúme de caráter mais extremo - podem parecer a melhor defesa, ou, pelo menos, a mais viável delas.
Nesse sentido, se tudo se move e se desloca, os indivíduos buscam, como bem aponta Bauman (2003), comunidades imaginadas a que possam pertencer com segurança. Nesse processo, os indivíduos acabam, algumas vezes, perdendo em liberdade. É o que pode ser observado, segundo o autor, no surgimento de guetos habitacionais criados artificialmente para se ter segurança; ou, utilizando os guetos como metáfora, nos guetos de um relacionamento marcado pelo ciúme, onde se tenta, também de modo artificial, construir uma unidade com o outro, uma homogeneidade que solape as incertezas da diferença e da liberdade dos relacionamentos amorosos contemporâneos.
Entretanto, na contemporaneidade, a "comunidade realmente existente" (Bauman, 2003, p.19), ou seja, qualquer tentativa de acordo com regras fechadas e bem delimitadas, nunca estará, ainda assim, imune à reflexão e à mudança. Com isso, ao invés de ajudar a minorar a insegurança, a comunidade – e, da mesma forma, a união amorosa - pode, paradoxalmente, vir a sublinhar os temores. Resume Bauman (2000, p. 30): "Numa relação (na contemporaneidade), você pode sentir-se tão inseguro quanto sem ela, ou até pior. Só mudam os nomes que você dá à ansiedade".
Nesse cenário, alguns se tornam vulneráveis à mordida do monstro de olhos verdes, e a ciosa tentativa de controle da vida em comum torna-se a saída dolorosamente buscada para o gerenciamento da nova condição da experiência amorosa em nossos dias.
Referências
Araújo, M. F. (2002). Amor, casamento e sexualidade: velhas e novas configurações. Psicologia: Ciência e Profissão, 2, 70-77. [ Links ]
Áriès, P. & Bejin, A. (Orgs.). (1986). Sexualidades ocidentais: contribuições para a história e para a sociologia da sexualidade. São Paulo: Brasiliense. [ Links ]
Bauman, Z. (2001). Consuming Life. Journal of Consumer Culture, 1(1), 9-29. [ Links ]
Bauman, Z. (2003). Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. [ Links ]
Bauman, Z. (2004). Amor líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. [ Links ]
Beck, U. & Beck-Gernsheim, E. (1995). The normal chaos of love. Malden: Polity Press. [ Links ]
Branden, N. (1998). A psicologia do amor. O que é amor, por que ele nasce, cresce e às vezes morre. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos [
Links ]
Cavalcante, M. (1997). O ciúme patológico. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos. [ Links ]
Costa, J. F. (1998). Sem fraude nem favor: estudos sobre o amor romântico. Rio de Janeiro: Rocco. [ Links ]
Del Priore, M. D. (2005). História do amor no Brasil. São Paulo: Contexto. [ Links ]
Ferreira- Santos, E. (1996). Ciúme o medo da perda. São Paulo: Ática. [ Links ]
Foucault, M. (1993). História da Sexualidade, Vol. 3: o cuidado de si. São Paulo: Graal. [ Links ]
Freyre, G. (1977). Sobrados e mucambos. Rio de Janeiro: José Olympio. [ Links ]
Giddens, A. (2002). Modernidade e identidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. [ Links ]
Giddens, A. (2003). A transformação da intimidade: sexualidade, amor e erotismo nas sociedades modernas.São Paulo: Editora Unesp. [ Links ]
Hall, S. (2003). A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A. [ Links ]
Lázaro, A. (1996). Do mito ao mercado. Petrópolis, RJ: Vozes. [ Links ]
Lebrun, J-P. (2004). Um mundo sem limite: ensaio para uma clínica psicanalítica do social. Rio de Janeiro: Companhia de Freud. [ Links ]
Lyotard, F. J. (1979). A condição pós-moderna. Rio de Janeiro: José Olympio. [ Links ]
Miller, M.V. (1995). Terrorismo íntimo. A deteriorização da vida erótica. Rio de Janeiro: Francisco Alves. [ Links ]
Nolasco, S. (2001). De Tarzan a Homer Simpson: banalização e violência masculina em sociedades contemporâneas ocidentais. Rio de Janeiro: Rocco. [ Links ]
Pedro, R. L. M. & Nobre, A. C. J. (2002- 2003). Dos sólidos às redes: algumas questões sobre a produção de conhecimento na atualidade. Série Documenta EICOS, ano III, 12-13, 43 –56. [ Links ]
Pines, A. M. (1992). Romantic jealousy: Understanding and conquering the shadow of love. New York: St. Martin's Press. [ Links ]
Plastino, C. A. (1996). Os horizontes de Prometeu. Considerações para uma crítica da modernidade. PHYSIS: Revista Saúde Coletiva, 11, 195-216. [ Links ]
Rocha-Coutinho. M. L. (1996). Problematizando a diferença: mulher e cidadania no Brasil. Série documenta/EICOS,7, 27- 37. [ Links ]
Santos, F. E. (1996) Ciúme: o medo da perda. São Paulo: Ática. [ Links ]
Vaitsman, J. (1994). Flexíveis e plurais. Identidade, casamento e família em circunstâncias pós-modernas. Rio de Janeiro: Rocco. [ Links ]
White, G. L. & Mullen, P. E. (1989). Jealousy theory, research, and clinical strategies. New York: The Guilford Press. [ Links ]
Wittel, A. (2002). Toward a network sociability. Theory, Culture & Society, 1, 51-76. [ Links ]
Yalom, M. (2002). A história da esposa: da Virgem Maria a Madonna: o papel da mulher casada dos tempos bíblicos até hoje. Rio de Janeiro: Ediouro. [ Links ]
---------------
Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-71822011000100018