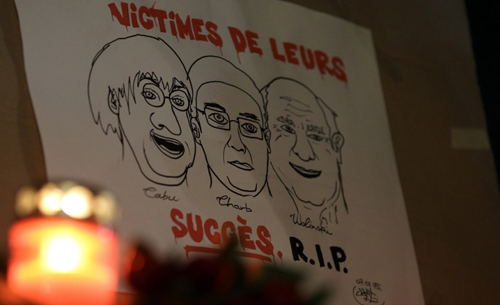Talvez não tenha havido um momento da
história recente mais marcado pela convergência entre política, cultura, vida
pública e privada que os anos 60 - não só na sociedade brasileira, sobretudo
entre a intelectualidade.1 Para
pensar essa convergência, usa-se aqui de um modo próprio o conceito de romantismo
revolucionário, formulado por Michael Löwy e Robert Sayre (1995).
Eram anos de guerra
fria entre os aliados dos Estados Unidos e os da União Soviética, mas surgiam
esperanças de alternativas libertadoras no Terceiro Mundo, inclusive no
Brasil, que vivia um processo acelerado de urbanização e modernização da
sociedade. Naquele contexto, certos partidos e movimentos de esquerda, seus
intelectuais e artistas, valorizavam a ação para mudar a História, para
construir o homem
novo, nos termos de Marx e Che Guevara. Mas o modelo para esse homem
novo estava
no passado, na idealização de um autêntico homem do povo,
com raízes rurais, do interior, do "coração do Brasil", supostamente
não contaminado pela modernidade urbana capitalista, o que permitiria uma
alternativa de modernização que não implicasse a desumanização, o consumismo, o
império do fetichismo da mercadoria e do dinheiro. São exemplos no âmbito das
artes: o indígena exaltado no romance Quarup, de Antonio Callado
(1967); a comunidade negra celebrada no filme Ganga Zumba, de Carlos Diegues
(1963), e na peça Arena
conta Zumbi, de Boal e Guarnieri (1965); os camponeses no filme Deus
e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha (1963), etc. Em suma,
buscava-se no passado uma cultura popular autêntica para construir uma nova
nação, ao mesmo tempo moderna e dasalienada, no limite, socialista.
Eram versões de
esquerda para as representações da mistura do branco, do negro e do índio na
constituição da brasilidade, não mais no sentido de justificar a ordem social
existente, mas de questioná-la. É a isso, em linhas gerais, que se pode chamar
de romantismo revolucionário brasileiro do período, sem nenhuma conotação
pejorativa. Recolocava-se o problema da identidade nacional e política do povo
brasileiro, buscava-se a um tempo suas raízes e a
ruptura com o subdesenvolvimento, numa espécie de desvio à esquerda do que se
convencionou chamar ultimamente de Era Vargas, caracterizada pela
aposta no desenvolvimento nacional, com base na intervenção do Estado.
Essa versão
brasileira não se dissociava de traços do romantismo revolucionário da época em
escala internacional: a liberação sexual, o desejo de renovação, a fusão entre
vida pública e privada, a ânsia de viver o momento, a fruição da vida boêmia, a
aposta na ação em detrimento da teoria, os padrões irregulares de trabalho e a
relativa pobreza, típicas da juventude de esquerda na época, são
características que marcaram os movimentos sociais nos anos 60 em todo o mundo,
fazendo lembrar a velha tradição romântica.2
OS ANOS ROMÂNTICOS
O florescimento
cultural e político internacional dos anos 60 ligava-se a uma série de
condições materiais comuns a diversas sociedades, além das especificidades
locais ¾ no
caso brasileiro, em especial, as lutas pelasreformas de base no
pré-1964 e contra a ditadura após essa data, que levaram alguns ao extremo da
luta armada. Essas condições comuns estavam presentes especialmente na Europa
Ocidental e nos Estados Unidos, mas eram compartilhadas também por países em
desenvolvimento, como o Brasil: crescente urbanização, consolidação de modos de
vida e cultura das metrópoles, aumento quantitativo das classes médias, acesso
crescente ao ensino superior, peso significativo dos jovens na composição
etária da população, incapacidade do poder constituído para representar
sociedades que se renovavam, avanço tecnológico (por vezes ao alcance das
pessoas comuns, que passaram a ter cada vez mais acesso, por exemplo, a
eletrodomésticos como aparelhos de televisão, além de outros bens, caso da
pílula anticoncepcional - o que possibilitaria mudanças
consideráveis de comportamento), etc. Essas condições materiais não explicam
por si sós as ondas românticas de rebeldia e revolução, apenas possibilitaram
que frutificassem ações políticas e culturais inovadoras e diversificadas,
aproximando a política da cultura e da vida cotidiana, buscando colocar a
imaginação no poder.
Foram características
dos movimentos libertários dos anos 60, particularmente de 1968, no mundo todo:
inserção numa conjuntura internacional de prosperidade econômica; crise no
sistema escolar; ascensão da ética da revolta e da revolução; busca do
alargamento dos sistemas de participação política, cada vez mais
desacreditados; simpatia pelas propostas revolucionárias alternativas ao
marxismo soviético; recusa de guerras coloniais ou imperialistas; negação da
sociedade de consumo; aproximação entre arte e política; uso de recursos de
desobediência civil; ânsia de libertação pessoal das estruturas do sistema
(capitalista ou comunista); mudanças comportamentais; vinculação estreita entre
as lutas sociais amplas e os interesses imediatos das pessoas; aparecimento de
aspectos precursores do pacifismo, da ecologia, da antipsiquiatria, do
feminismo, de movimentos de homossexuais, de minorias étnicas e outros que
viriam a se desenvolver nos anos seguintes.
O ensaio
geral de socialização da cultura3 brasileira
dos anos 60 construiu-se sobre coordenadas históricas específicas, que podem
ser observadas nas sociedades que adentram definitivamente na modernidade
urbana capitalista, conforme sugestão de Perry Anderson: a "intersecção de
uma ordem dominante semi-aristocrática, uma economia capitalista
semi-industrializada e um movimento operário semi-insurgente". Ou seja, o
modernismo caracteriza-se historicamente:
- pela resistência ao
academicismo nas artes, indissociável de aspectos pré-capitalistas na cultura e
na política, em que as classes aristocráticas e latifundiárias dariam o tom;
- pela emergência de
novas invenções industriais de impacto na vida cotidiana, geradora de
esperanças libertárias no avanço tecnológico;
- e pela proximidade
imaginativa da
revolução social, fosse ela mais "genuína e radicalmente capitalista"
ou socialista (Anderson, 1986:18-19).
Já foi argumentado em
outro trabalho (Ridenti, 1993:76-81) que as coordenadas históricas do
modernismo sugeridas por Anderson estavam presentes na sociedade brasileira, do
final dos anos 50 até por volta de 1968: havia luta contra o poder remanescente
das oligarquias rurais e suas manifestações políticas e culturais; um otimismo
modernizador com o salto na industrialização a partir do governo Kubitschek;
também um impulso revolucionário, alimentado por movimentos sociais e portador
de ambigüidades nas propostas de revolução brasileira, democrático-burguesa (de
libertação nacional), ou socialista, com diversas gradações intermediárias.
Os Anos Pragmáticos
Com a derrota das
esquerdas brasileiras pela ditadura e os rumos dos eventos políticos
internacionais, perdeu-se a proximidade imaginativa da
revolução social, paralelamente à modernização conservadora da sociedade
brasileira e à constatação de que o acesso a novas tecnologias não correspondeu
às esperanças libertárias no progresso técnico em si. Então, ficou explícito
que o modernismo temporão não bebia na fonte da eterna juventude; e o ensaio
geral de socialização da cultura frustrou-se antes da realização da
esperada revolução brasileira, que se realizou pelas avessas, sob a bota dos
militares, que depois promoveriam a transição lenta, gradual e segura para
a democracia, garantindo a continuidade do poder político e econômico das
classes dominantes.
Paradoxal é que a
nova ordem da ditadura - uma vez devidamente punidos com
prisões, mortes, torturas e exílio os que ousaram se insurgir abertamente
contra ela - soube
dar lugar aos intelectuais e artistas de oposição. A partir dos anos 70,
concomitantemente à censura e à repressão política, ficou evidente o esforço
modernizador que a ditadura já vinha esboçando, desde a década de 60, nas áreas
de comunicação e cultura, incentivando o desenvolvimento capitalista privado ou
até atuando diretamente por intermédio do Estado.
As grandes redes de
TV, em especial a Globo, surgiam com programação em âmbito nacional,
estimuladas pela criação da Embratel, do Ministério das Comunicações e de
outros investimentos governamentais em telecomunicações, que buscavam a
integração e segurança do território brasileiro. Ganhavam vulto diversas instituições
estatais de incremento à cultura, como a Embrafilme, o Instituto Nacional do
Livro, o Serviço Nacional de Teatro, a Funarte e o Conselho Federal de Cultura.
À sombra de apoios do Estado, floresceu também a iniciativa privada: criou-se
uma indústria cultural, não só televisiva, mas também fonográfica, editorial
(de livros, revistas, jornais, fascículos e outros produtos comercializáveis em
bancas de jornal), de agências de publicidade, etc. Tornou-se comum, por
exemplo, o emprego de artistas (cineastas, poetas, músicos, atores, artistas
gráficos e plásticos) e intelectuais (sociólogos, psicólogos e outros
cientistas sociais) nas agências de publicidade, que cresceram em ritmo
alucinante a partir dos anos 70, quando o governo também passou a ser um dos
principais anunciantes na florescente indústria dos meios de comunicação de
massa.4
Celso Frederico,
seguindo trilhas abertas por Jameson, dá pistas significativas para compreender
a inserção de setores artísticos e intelectuais de esquerda nesse processo.
Para ele, com a terceira revolução tecnológica capitalista, a partir dos anos
60, "a esfera cultural e artística, totalmente envolvida pela
mercantilização, deixou paulatinamente de ser um campo à parte dentro da vida
social". Com a ocupação quase completa do espaço cultural pela lógica
mercantil, tendia a diluir-se a presença da esquerda nessa área, na qual
permanecera até então como "reduto, pólo de resistência contra os efeitos
desumanizadores da lógica do capital" (Frederico, 1998:298-99).
A atuação cultural do
regime civil-militar também implicou a modernização conservadora da educação,
com a massificação (e degradação) do ensino público de primeiro e de segundo
grau, o incentivo ao ensino privado e a criação de um sistema nacional de apoio
à pós-graduação e à pesquisa para as universidades, nas quais a ditadura
encontrava alguns dos principais focos de resistência, que reprimiu duramente,
mas sem deixar de oferecer uma alternativa de acomodação institucional.
Buscava-se atender, dentro dos parâmetros da ordem estabelecida, às
reivindicações de modernização que haviam levado os estudantes às ruas nos anos
60.
Na esfera dos
costumes, as forças da ordem também souberam adaptar para seus propósitos o que
originariamente eram transgressões - e isso não ocorreu só na sociedade
brasileira. Por exemplo, num artigo provocativo, "A consolação da
revolução sexual", Jean-Claude Guillebaud observa que a liberação sexual
teve um sentido de esquerda nos anos 60, ao "sacudir a velha moral, o
velho mundo pudico, autoritário, patriarcal, arcaico", em que sua geração
foi criada (1999:176). Contudo, essa liberação nos dias de hoje teria perdido
seu caráter subversivo, ao contrário das auto-ilusões dos militantes de 1968,
que, derrotados na política, teriam como consolo a suposta vitória da revolução
sexual. Esta, de fato, teria sido digerida e reaproveitada pelo capitalismo,
que soube transformá-la em mercadoria, num tempo marcado pelo que alguns
especialistas chamam de desemprego estrutural, em que
não se precisa mais canalizar para o trabalho todas as energias da população, a
quem o mercado busca oferecer opções (inclusive sexuais) de diversão, para
acomodá-la à ordem e lucrar. Hoje, segundo Guillebaud (1999:179) - invertendo
as condições de 1968 - ,
"a virtude, a moral, a família são estruturas parasitas que se opõem à
tirania do mercado".
O fato é que a sociedade
brasileira foi ganhando nova feição e a intelectualidade que combatia a
ditadura aos poucos adaptava-se à nova ordem, que criava até mesmo um nicho de
mercado para produtos culturais críticos, censurando seletivamente alguns
deles. Universidades, jornais, rádios, televisões, agências de publicidade,
empresas públicas e privadas tendiam a fornecer ótimas oportunidades a
profissionais qualificados, dentre os quais se destacavam os que se
consideravam de esquerda, expoentes da cultura viva do momento imediatamente
anterior.
A situação não se
alterou muito após a redemocratização da sociedade brasileira, a partir de
1985, que daria sinal verde para uma parcela significativa dos intelectuais de
oposição comprometer-se com a Nova República. Eram as
"aves de arribação", a deixar o campo de uma oposição mais
consistente à ordem estabelecida, na expressão de um artigo da época de
Francisco de Oliveira (1985).
Nada será como antes.
Nada?
Ao menos desde o
final da década de 70,5 ia
ficando cada vez mais evidente a necessidade de renovar os parâmetros da
esquerda, em busca da revalorização da democracia, da individualidade, das
liberdades civis, dos movimentos populares espontâneos, da cidadania, da
resistência cotidiana à opressão, das lutas das minorias, entre outras.
Houve uma infinidade
de manifestações nos diferentes campos da sociedade a expressar essa virada no
pensamento e na prática de esquerda. Na esfera política, foi criado o Partido
dos Trabalhadores (PT), ancorado num tripé: as Comunidades Eclesiais de Base da
Igreja Católica, inspiradas na teologia da Libertação; o chamado novo
sindicalismo, liderado pelos metalúrgicos do ABC paulista; além de intelectuais
e remanescentes de organizações políticas marxistas-leninistas derrotadas pelo
regime civil-militar. O PT procurava dar vez e voz aos deserdados, que haviam
começado a se organizar em movimentos sociais a partir de meados dos anos 70.
Paralelamente, surgia uma literatura para teorizar a importância e a autonomia
desses movimentos em relação ao Estado e a outras instituições, inclusive os
partidos. Por exemplo, num artigo muito difundido, Tilman Evers (1984)
celebrava a independência dos movimentos e seu caráter libertário; apostava no
PT como partidoservo dos movimentos, jamais seu guia, como
os tradicionais partidos de esquerda. Alguns anos depois, Eder Sader faria um
balanço da experiência desses movimentos em Quando novos personagens entram em
cena(1988). Por sua vez, vários intelectuais procuravam compreender os
dilemas da esquerda, como os que participaram do debate, depois transformado em
livro, As
esquerdas e a democracia ¾ dentre eles, Carlos Nelson Coutinho,
Francisco Weffort, Maria Victória Benevides, Marco Aurélio Garcia e Daniel
Aarão Reis. (Garcia, 1986).6
Os acontecimentos dos
anos 80 - da
reformulação partidária brasileira de 1980, passando pelo fim da ditadura
civil-militar em 1984, até a queda do Muro de Berlim em 1989, episódio
emblemático da derrocada dos regimes pró-soviéticos, que no Brasil culminaria
com a auto-extinção do Partido Comunista Brasileiro, já na década de 90 - consolidaram
o esgotamento do modelo bolchevique de partido revolucionário no Brasil, embora
uma ou outra organização continuasse posteriormente a se estruturar nesses
moldes. Dentre outras razões, porque os militantes já não encontravam motivos
para o auto-sacrifício em nome do Partido e da revolução. Se o sacrifício da
individualidade parecera-lhes fazer sentido em conjunturas passadas, isso já
não ocorreria no presente. Para a maioria, não teria mais cabimento integrar
partidos que impusessem aos militantes o que Daniel Aarão Reis Filho chamou de
"estratégia da tensão máxima".7
Ganhavam projeção,
nos anos 80, correntes de esquerda - quer se autodesignassem marxistas, quer
não - que
buscavam contato com a realidade imediata das vidas cotidianas, contra a visão
doutrinária fechada de certas vertentes do marxismo.
Mas há o outro lado
da moeda. Às vezes a (auto)crítica do engajamento dos anos 60 não foi senão a
máscara para o triunfo da concepção (neo)liberal do indivíduo, da sociedade e
da política. No lugar do intelectual indignado, dilacerado pelas contradições
da sociedade capitalista, agravadas nas condições de subdesenvolvimento,
passava a predominar o intelectual profissional competente e competitivo no
mercado das idéias, centrado na carreira e no próprio bem-estar individual.
Entrava em franco
declínio o modelo de intelectual ou artista de esquerda dos anos 60, engajado,
altruísta, em busca da ligação com o povo, tido
hoje por muitos como mera expressão do populismo, manipulador dos
anseios populares; ou, na melhor das hipóteses, como arquétipo do intelectual
quixotesco e ingênuo. Ia-se estabelecendo o protótipo do scholar contemporâneo,
egocêntrico, desvinculado de compromissos sociais, a não ser que eles
significassem avanço em suas carreiras profissionais individuais, como as dos
inúmeros professores que já foram críticos da ordem capitalista a ocupar cargos
públicos em governos que adotam medidas neoliberais. Atuam como técnicos a
serviço do funcionamento saudável da ordem estabelecida, sem maiores dramas de
consciência, talvez se agarrando ainda à ideologia de que estão no poder para o
bem do povo e da nação, uma vez amadurecidos e livres das utopias voluntaristas
dos anos 60, que só aparentemente teriam sido revolucionárias.
Os tempos mudaram e,
especialmente a partir dos anos 80, já era visível o progressivo trajeto de
desaparecimento do intelectual ou artista atormentado com sua condição
relativamente privilegiada numa sociedade subdesenvolvida e desigual, como a
brasileira. Gradativamente, a ânsia de muitos intelectuais de esquerda ia
deixando de dirigir-se para a ruptura coletiva da condição do
subdesenvolvimento nacional e da exploração de classe; a busca passaria a ser o
acesso individual ao desenvolvimento de um mundo globalizado, ainda que muitas
vezes o discurso continuasse com tons esquerdistas.
Aos poucos, foi-se
esgotando o arquétipo do intelectual ou artista rebelde, cada vez mais raro nos
dias de hoje. Os intelectuais críticos e comprometidos com a superação das contradições
da modernidade capitalista tendem a dar lugar a intelectuais resignados,
contemplativos das eternas contradições, contra as quais pouco ou nada poderiam
fazer. O intelectual militante, libertário, é substituído pelo intelectual
passivo, a fruir sem culpa sua liberdade e relativa autonomia na modernidade em
eterna mutação. Em vez de colocar-se em sintonia com "os sinais da
rua", como por exemplo sugere Berman (1986 e 1987), esse
intelectual-narcisista apenas observa o movimento perpétuo da rua, instalado na
janela à prova de balas de seu confortável gabinete, com vista para o mar, que
não cansa de mirar, aguardando notícias da última moda intelectual no exterior,
ou a oportunidade de conferi-la pessoalmente em Paris, Londres ou Nova York.
O acerto de contas
com os anos 60 colocava a intelectualidade brasileira dos anos 80 na fronteira
entre uma (auto)crítica que poderia redundar na continuidade do engajamento
contra a ordem estabelecida, agora num patamar superior - o
intelectual ao mesmo tempo dilacerado pelas contradições da modernidade e
engajado prazerosamente no processo de transformação, sem renunciar à sua
individualidade - ou uma (auto)crítica que envolveria o desaparecimento do intelectual
inconformista, tendência que ganharia cada vez mais força nos anos seguintes.
As personalidades modernas, ao "assumir a fluidez e a forma aberta dessa
sociedade" (Berman, 1986:94), podem implicar o reconhecimento de que pouco
caberia fazer para mudar as encruzilhadas históricas, para resolver as
contradições da modernidade, que teria um movimento próprio de eterna
autodestruição criadora, a que todos deveriam se ajustar.
A vivência das
contradições da modernidade pode levar o intelectual ao engajamento na mudança,
ou a preferir adaptar-se à ordem em transformação constante, aceitando o
"destino", livre do dilaceramento existencial. Em vez de intelectual
revoltado contra o mundo, ou revolucionário a propor um novo mundo - típico
dos anos 60 -, consolida-se o intelectual reconciliado com o mundo, no qual
reconheceria o eterno e inevitável movimento em que deve se inserir, e não
combater, usufruindo ao máximo o prazer e a dor de viver em meio às intempéries
da modernidade.
De modo que se
estabeleciam tardiamente - durante o período da ditadura,
consolidando-se posteriormente com a redemocratização no Brasil - novas
condições que fazem lembrar os comentários de Jacoby (1990) sobre o declínio do
intelectual atuante na vida pública da sociedade norte-americana já na década
de 50: os intelectuais e artistas estariam ocupados e preocupados especialmente
com as exigências das carreiras profissionais, como na Universidade; à medida
que a vida profissional prospera, a cultura pública fica mais pobre e mais
velha; haveria a substituição crescente de empresários, trabalhadores e
profissionais independentes por empresas corporativas, processo indissociável
da explosão da educação superior; desaparecimento do espaço urbano barato e
agradável que podia nutrir uma intelligentsia boêmia,
modelar de uma geração de intelectuais (diferente da boêmia massificada de
hoje, comercializada e popularizada); eliminação das moradias baratas,
restaurantes, cafés e livrarias modestos; comercialização acelerada da cultura,
num cenário em que "a literatura e a crítica se tornam carreiras, não
vocações", com autores independentes dando lugar à profissionalização da
vida cultural.
A institucionalização
de intelectuais e artistas neutralizaria a liberdade de que em teoria dispõem,
de modo que eventualmente o sonho com a revolução conviveria com o investimento
na profissão, na qual prevaleceria a realidade cotidiana da burocratização e do
emprego. A profissionalização da vida intelectual nos limites do campus
universitário conduziria à privatização ou à despolitização, à transferência da
energia intelectual de um domínio mais amplo para uma disciplina mais restrita,
em que as pressões da carreira e da publicação intensificariam a fragmentação
do conhecimento. Esse processo ocorreria lentamente: "a transformação do
ambiente do intelectual tradicional não é instantânea; ela é paralela ao
declínio das cidades, ao crescimento dos subúrbios e à expansão das
universidades" (Jacoby, 1990:245). Tudo isso misturado a uma recomposição
do público, ao sucesso da televisão, à expansão dos subúrbios, deterioração das
cidades e inchaço das universidades.
Não seria o caso de
retomar aqui todo o pensamento de Jacoby para ajudar a explicar em outro
contexto o declínio público da intelectualidade brasileira de esquerda. Mas
pode-se imaginar um exemplo de como se esgarçou o espaço para a produção de uma
intelectualidade radical: a São Paulo dos anos 60 contrastada com a de hoje.
Naqueles anos, o ponto nevrálgico de encontro de artistas e intelectuais estava
num breve espaço geográfico no centro da cidade, em que se concentravam o
Teatro de Arena, o Cine Bijou, a Faculdade de Filosofia e outras da
Universidade de São Paulo (USP), escritórios de arquitetos, advogados e outros
profissionais liberais engajados, todos se encontrando em restaurantes e bares
da região, como o Redondo, na confluência entre a avenida Ipiranga e as ruas da
Consolação e Teodoro Baima. Ali circulavam: o pessoal de teatro dos inovadores
Arena e Oficina, escritores, cineastas, artistas plásticos, jovens
representantes da insurgente música popular brasileira, professores da USP,
militantes do movimento estudantil e de organizações de esquerda, enfim, todo
um conjunto que representaria o florescimento cultural do período.
Hoje alunos e
professores estão instalados no distante campus universitário da USP no
Butantã, e muitos deles se espalharam pelas inúmeras universidades públicas e
privadas que surgiram pelo interior do Estado e por outras unidades da
federação ao longo dos anos, onde encontraram seu lugar profissional. O pessoal
do teatro em geral alcançou êxito na televisão ou na indústria dos espetáculos teatrais.
Os cineastas encontraram apoio na Embrafilme e outras alternativas de
financiamento público que a sucederam, quando não nas agências de publicidade.
Artistas plásticos viram frutificar um mercado rentável para suas obras,
escritores se deram bem em jornais ou na expansão da mídia em geral, sem contar
a crescentemente próspera indústria do livro. Vários músicos da MPB alcançariam
sucesso de mercado maior que artistas de qualquer outro setor. E os políticos
radicais de então encontrariam lugar nos mais diversos partidos da ordem, do
PMDB ao PSDB, passando até pelo PT - cada vez mais confiável - e
outros partidos, pelos quais muitas vezes chegaram a governos municipais,
estaduais e federais. Inviabilizava-se a condensação de uma intelligentsia crítica
num espaço geográfico e histórico criativo. Talvez uma das imagens mais
expressivas da mudança e do esvaziamento desse espaço esteja no destino do
local do famoso bar Redondo: virou uma loja de fast
food.
Assim, pode-se
constatar, com certo desencanto, os rumos que tomou uma parcela da
intelectualidade que já se propôs a mudar o mundo e a vida, cuja despolitização - quando
não mudanças de rota em direção à direita - talvez não se deva apenas e
essencialmente à vontade dos agentes, mas às próprias transformações por que
passou a sociedade brasileira.
Que ninguém se iluda:
não há como voltar às circunstâncias do passado de oportunidades perdidas de um
ponto de vista de esquerda. É sabido que a tendência à fragmentação social do
capitalismo de hoje dificulta projetos coletivos alternativos, como aqueles dos
anos 60, levando muitas vezes os atuais artistas e intelectuais engajados a
meramente transferir a uma dada causa seus apoios e prestígios pessoais, por
exemplo, declarando apoio a certos candidatos ou partidos no horário político
obrigatório na televisão. Mas nem por isso seria adequado conformar-se com o
presente de burocratização inofensiva das atividades intelectuais e artísticas.
Para um estudo do
enfraquecimento da arte política nos anos 70 e sobretudo nos 80 e 90, é
instigante a análise de Jameson (1994) sobre os problemas envolvidos na
produção de uma arte política em nossos dias, em que o capitalismo quase
inviabilizaria quaisquer atividades grupais que pudessem embasar socialmente
uma arte subversiva, numa era de ocupação quase completa do espaço cultural
pela lógica mercantil. Haveria umaatomização reificada, imposta
pelo capitalismo de hoje. Jameson admite, contudo, como fundamento social para
uma nova arte política e uma produção cultural autêntica a ser criada, a
constituição de um grupo
novo e orgânico, por meio do qual o coletivo abriria caminho na atomização
reificada da vida social capitalista, a partir da luta de classes.
Parece que seria
equivocado reproduzir ao pé da letra propostas culturais e políticas dos anos
60. Mas seria possível encontrar alternativas melhores de inserção da sociedade
brasileira e de sua cultura no mundo de hoje do que o ceticismo passivo, de
submissão à nova ordem mundial do "consenso de Washington". Não cabe
reviver o passado, mas isso não implica a inviabilidade de retomar suas
esperanças, apostar em novos projetos coletivos de transformação social ¾ inclusive
nas esferas intelectuais e artísticas ¾ em vez da carreira individual de cada
um no mercado.
Nesses anos todos, a
sociedade brasileira continuou submetida à "subordinação interiorizada e
imperceptível" de um "complexo de experiências, relações e
atividades" que constituem a hegemonia burguesa, para usar uma formulação
de Chauí (1987:21-2). Ela está ancorada no conceito de hegemonia de Raymond
Williams, derivado de Gramsci, que envolve "um conjunto de práticas e
expectativas sobre a totalidade da vida: nossos sentidos e distribuição de
energia, nossa percepção de nós mesmos e nosso mundo. É um sistema vivido de
significados e valores - constitutivo e constituidor - que,
ao serem experimentados como práticas, parecem confirmar-se reciprocamente.
Constitui assim um senso da realidade para a maioria das pessoas na sociedade,
um senso de realidade absoluta, porque experimentada, e além da qual é muito
difícil para a maioria dos membros da sociedade movimentar-se, na maioria das
áreas de sua vida." (Williams, 1979:113).
Não há dúvida de que
hoje predomina o senso
de realidade experimentada que supõe a reprodução eterna da
sociabilidade capitalista. Mas por que não inventar uma contra-hegemonia para
os novos tempos, alternativa à hegemonia neoliberal e à atomização
reificada da sociedade
do espetáculo, nos termos respectivamente de Jameson (1994) e Debord
(1967)? Utopia irrealizável? Talvez não. O recente Fórum Social de Porto
Alegre, o movimento "Arte contra a barbárie" ¾ que
desde 1999 tem mobilizado artistas e intelectuais comprometidos com a
"função social da arte" no Brasil ¾ e outros indícios sinalizam que a
roda-viva da História não parou na posição mais confortável para os donos
do poder.
NOTAS
Neste artigo, o autor retoma e sintetiza idéias expostas mais longa e
sistematicamente em alguns de seus últimos escritos sobre cultura e política a
partir dos anos 60. É o caso do livro Em busca do povo brasileiro:
artistas da revolução, do CPC à era da TV (Ridenti, 2000a), e dos artigos "O
sucesso no Brasil da leitura do Manifesto Comunista feita por Marshall
Berman" (Ridenti, 1998), e "Intelectuais, artistas e estudantes:
Paris, 1968" (Ridenti, 2000b).
1.
Intelectualidade entendida como "categoria social definida por seu papel
ideológico: eles são os produtores diretos da
esfera ideológica, os
criadores de produtos ideológico-culturais", o que engloba
"escritores, artistas, poetas, filósofos, sábios, pesquisadores,
publicistas, teólogos, certos tipos de jornalistas, certos tipos de professores
e estudantes etc.", como define Michael Löwy (1979:1).
2.
Veja-se, por exemplo, o que diz Jerrold Seigel a respeito do perfil dos boêmios
de Paris do século XIX (Seigel, 1992).
3.
O termo é de Walnice Nogueira Galvão (1994 ).
4.
Um balanço expressivo da criação e do avanço da indústria cultural nos anos de
ditadura, inclusive com dados estatísticos e rica menção de fontes empíricas e
bibliográficas, encontra-se em A moderna tradição brasileira, de
Renato Ortiz (1988).
5.
Em 1979 entrou em vigor a lei da anistia aos condenados políticos pela
ditadura; em 1980 ressurgiria o pluripartidarismo, entre outras medidas que mudavam
a cena política brasileira.
6.
Os livros mencionados são uma amostragem relativamente aleatória de um
movimento intelectual e político muito mais amplo. Eles são citados por indicar
reflexões de intelectuais engajados, como sintoma da procura de novos caminhos
por parte das esquerdas, valorizando os "sinais das ruas" e a
democracia.
7.
Essa estratégia envolveria
uma série de mecanismos: o complexo da dívida do
militante com a organização comunista, o leque das virtudes do
revolucionário modelo, o massacre das tarefas com
que o Partido sobrecarregaria seus integrantes, a celebração
da autoridade dos
dirigentes, a ambivalência
das orientaçõespartidárias, bem como a síndrome da traição ¾ pela
qual seriam renegados aqueles que deixassem o Partido. (Reis Filho, 1991).
REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
ANDERSON, P.
"Modernidade e revolução". Novos Estudos Cebrap. São Paulo,
v.14, fev. 1986, p.2-15.
[ Links ]
BERMAN, M. Tudo
que é sólido desmancha no ar. São Paulo, Cia das Letras, 1986.
[ Links ]
_________. "Os
sinais da rua: uma resposta a Perry Anderson". Presença.
Rio de Janeiro, n.9, fev. 1987, p.122-38.
[ Links ]
CHAUÍ, M. Conformismo
e resistência. 2a ed. São Paulo, Brasiliense, 1987.
[ Links ]
DEBORD, G. La
société du spetacle. Paris, Buchet-Chastel, 1967.
[ Links ]
EVERS, T.
"Identidade, a face oculta dos movimentos sociais". Novos
Estudos Cebrap. São Paulo, v.2, n.4, abr. 1984, p.11-23.
[ Links ]
FREDERICO, C. "A
política cultural dos comunistas". In: QUARTIM DE MORAES, J. (org.). História
do marxismo no Brasil, III. Teorias. Interpretações. Campinas, Ed. da
Unicamp, 1998, p.275-304.
[ Links ]
GALVÃO, W.N. "As
falas, os silêncios". In: SOSNOWSKI, S. e SCHWARZ, J. (orgs.). Brasil:
o trânsito da memória. São Paulo, Edusp, 1994.
[ Links ]
GARCIA, M.A. (org.). As
esquerdas e a democracia. Rio de Janeiro, Paz e Terra/Cedec, 1986.
[ Links ]
GUILLEBAUD, J.-C.
"A consolação da revolução sexual". In: GARCIA, M.A. e VIEIRA, M.A. Rebeldes
e contestadores ¾ 1968:
Brasil, França, Alemanha. São Paulo, Ed. Fundação Perseu Abramo, 1999,
p.173-79. [ Links ]
JACOBY, R. Os
últimos intelectuais. São Paulo, Edusp/Trajetória Cultural, 1990.
[ Links ]
JAMESON, F.
"Reificação e utopia na cultura de massa". Crítica
Marxista. São Paulo, Brasiliense, v.1, n.1, 1994, p.1-25.
[ Links ]
LÖWY, M. Para
uma sociologia dos intelectuais revolucionários. São Paulo, Ciências
Humanas, 1979. [ Links ]
LÖWY, M. e SAYRE, R. Revolta
e melancolia ¾ o
romantismo na contramão da modernidade. Petrópolis, Vozes, 1995.
[ Links ]
OLIVEIRA, F. de.
"Aves de arribação: a migração dos intelectuais". Lua
Nova. São Paulo, Cedec, v.2, n.3, out.-dez.1985.
[ Links ]
ORTIZ, R. A
moderna tradição brasileira ¾ cultura brasileira e indústria cultural.
São Paulo, Brasiliense, 1988.
[ Links ]
REIS FILHO, D.A. A
revolução faltou ao encontro. São Paulo, Brasiliense, 1991.
[ Links ]
RIDENTI, M. O
fantasma da revolução brasileira. São Paulo, Ed. Unesp, 1993.
[ Links ]
_________. "O
sucesso no Brasil da leitura do Manifesto Comunista feita por Marshall
Berman". In: REIS FILHO, D.A. (org.). O Manifesto Comunista 150 anos
depois. Rio de Janeiro/ São Paulo, Contraponto/ Fund. Perseu Abramo, 1998,
p.187-207. [ Links ]
_________. Em
busca do povo brasileiro: artistas da revolução, do CPC à era da TV. Rio
de Janeiro, Record, 2000a.
[ Links ]
_________.
"Intelectuais, artistas e estudantes: Paris, 1968". In: REIS FILHO,
D.A. (org.). Intelectuais,
história e política (séculos XIX e XX). Rio de Janeiro, 7 Letras, 2000b,
p.247-70. [ Links ]
SADER, E. Quando
novos personagens entram em cena. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1988.
[ Links ]
SEIGEL, J. Paris
boêmia ¾ Cultura
e política, os limites da vida burguesa, 1830-1930. Porto Alegre, L&PM,
1992. [ Links ]
WILLIAMS, R. Marxismo
e literatura. Rio de Janeiro, Zahar, 1979.
[ Links ]
--------------
Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88392001000200003