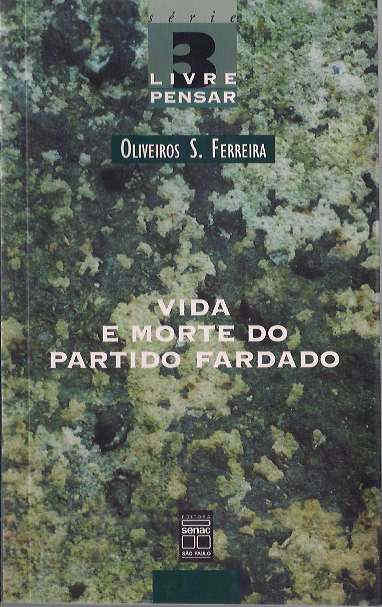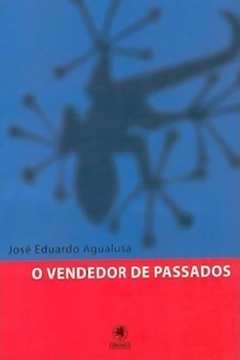(Via http://ricardoabramovay.com/)

A explosão da cultura digital durante o Século XXI revigorou os mais importantes ideais emancipatórios, combalidos pela queda do muro de Berlim. As pessoas e as comunidades passariam a dispor dos meios técnicos que lhes permitiriam estabelecer comunicação direta umas com as outras. A informação, os bens e os serviços poderiam ser oferecidos de forma eficiente sem que as condições objetivas de sua produção estivessem nas mãos de grandes empresas. O mantra da teoria microeconômica segundo o qual eficiência supõe concentração de recursos parecia desmentido pela comunicação em rede e, mais ainda, pelo surgimento dos smartphones e de equipamentos como as impressoras em três dimensões e as máquinas de corte a laser. Dispositivos eletrônicos com um poder cada vez maior estavam nas mãos das pessoas e operavam em rede. A oposição entre o pinguim e o Leviathã, no título do importante livro de Yochai Benkler, apontava para a importância cada vez maior dos “commons”, de tudo aquilo que operava para ampliar o domínio da esfera pública não só sobre a vida social, mas sobre a própria relação entre sociedade e natureza. Jeremy Rifkin foi além, vinculando a abundância trazida pela revolução digital ao próprio fim do capitalismo. A sharing economy, cujas expressões mais emblemáticas são a Wikipédia e os softwares livres, exprimiria a capacidade humana de cooperação, não apenas entre pessoas que se conhecem, num círculo limitado por laços de parentesco e amizade, mas de forma anônima, impessoal e massificada. As bases materiais para a transição do reino da necessidade para o de liberdade pareciam asseguradas.
Não
demorou muito para ficar claro que esta narrativa edificante subestimava a mais
importante transformação do capitalismo do Século XXI: a emergência da
empresa-plataforma. O aumento na capacidade de processar, coletar, armazenar e
analisar dados foi de tal magnitude que seu custo, que era de onze dólares por
gigabyte em 2000 caiu para US$ 0,02 em 2016. Esta foi uma das bases objetivas
não só para que Google e Facebook estivessem entre as mais poderosas empresas
do mundo, mas também para que um conjunto cada vez mais amplo de bens e
serviços fossem oferecidos não mais por empresas ou conglomerados
especializados, mas por plataformas que, a custo quase zero, tinham o poder de
conectar imediatamente consumidores e varejistas, reduzindo os custos
envolvidos em suas transações.
A
Amazon, assim, deixa de ser uma livraria e uma loja de discos e passa a
promover a ligação entre milhares de fabricantes e comerciantes a consumidores
de todo o mundo. E o poder da Amazon aumenta à medida que ela consegue ampliar
o alcance de sua rede. Quanto mais gente comprar e vender por meio de sua
plataforma, maior será a dificuldade de que surjam concorrentes capazes de
enfrentar o seu poder. O mesmo ocorre com a Netflix ou com o mecanismo de busca
do Google. É a lógica do “vencedor leva tudo” em que quem não estiver dentro da
rede terá dificuldade para obter os benefícios que ela propicia.
O
mais impressionante é que estas empresas-plataforma estão entre as mais
valiosas e poderosas do mundo atual, sem que, para isso, precisem deter
patrimônio, propriedades, estoques, almoxarifado, frota de caminhões, máquinas
ou custosas instalações. A Walmart, por exemplo, possui mais de 150 centros de
distribuição, uma frota de seis mil caminhões que rodam 700 milhões de milhas
anualmente para levar produtos a 4.500 lojas só nos Estados Unidos. Seus ativos
em 2016 valiam US$ 180 bilhões. Com tudo isso, a Walmart vale menos que a
chinesa Alibaba que vendeu um trilhão de dólares em 2016 e que atende
mensalmente um público maior que a população norte-americana.
O
livro de Tom Slee tem o mérito de desmistificar a aura de esperança com que a
sharing economy foi encarada em seus primórdios. Ele é inspirado, como diz o
autor na conclusão, por um sentimento de traição: muito longe de exprimir a
cooperação direta entre indivíduos, o suposto compartilhamento deu lugar à
formação de gigantes corporativos cujo funcionamento é regido por algoritmos
opacos que em nada se aproximam da utopia cooperativista estampada em suas
versões originais. O livro apoia-se numa sólida pesquisa empírica mostrando
consequências sociais desastrosas das corporações digitais. Sob a retórica do
compartilhamento escondem-se a acumulação de fortunas impressionantes, a erosão
de muitas comunidades, a precarização do trabalho e o consumismo.
O
AirBnb, por exemplo, acabou por estimular que, em cidades turísticas
importantes, como Barcelona, Paris e Amsterdã, as pessoas vendessem seus
domicílios a empresas que operavam como se fossem indivíduos. Ao mesmo tempo,
em muitas destas cidades o turismo se expandiu muito além dos limites da rede
hoteleira. No verão de 2014, mostra Slee, o bairro parisiense do Marais recebeu
66 mil visitantes, mais que os 64 mil habitantes que ali residem de forma
permanente. O resultado é que as regiões centrais das cidades atingidas, cujo
atrativo era exatamente o de conciliar a beleza arquitetônica com o cotidiano
de quem ali vivia, corriam o risco de serem convertidas em cenários de
Disneylândia. Não é à toa que várias prefeituras impuseram regulamentações
limitando o poder destes novos protagonistas da degradação urbana.
A
ideia de que se eu precisar de algo posso contar com a ajuda dos outros e que
isso vai gerar sentimentos e práticas de reciprocidade acabou se convertendo na
oferta generalizada de trabalhos mal pagos e sem qualquer segurança
previdenciária. Num ambiente em que os sindicatos estão cada vez mais fracos e
os direitos trabalhistas sob aberta contestação, os resultados são
devastadores. A utopia de que a relação peer to peer ampliaria o bem-estar, reduziria
o desperdício e traria significado humano para as relações econômicas, tão
fortemente cultivada pelo discurso do Vale do Silício, transformou-se no seu
contrário, como mostra de forma documentada e inteligente Tom Slee. E o curioso
é que a tão badalada sharing economy inclui gigantes digitais como Uber, Lyft e
Task Rabit, mas nunca as cooperativas do sistema espanhol Mondragón, as
inúmeras iniciativas de gestão comunitária de recursos ecossistêmicos comuns ou
o que na América Latina se conhece como economia solidária.
Este
livro é uma importante denúncia contra o cinismo dos que se apresentam ao
grande público como promotores da cooperação social e do uso parcimonioso dos
recursos, mas que na verdade estão entre os mais importantes vetores da concentração
de renda, da desregulamentação generalizada e da perda de autonomia dos
indivíduos e das comunidades no mundo atual. Um dos capítulos mais
interessantes deste livro é o que trata da confiança. A resposta do Vale do
Silício aos estudos que mostravam a erosão da confiança na sociedade
norte-americana a partir dos anos 1980 consistiu em enaltecer os sistemas
digitais de que atribuem reputação ao comportamento dos indivíduos e permitem,
supostamente, que todos saibam quem é confiável. Slee mostra que estes sistemas
são altamente distorcidos e que em hipótese nenhuma eles poderiam substituir o
sentimento de identidade e pertencimento comunitário que formam a base real de
qualquer democracia.
Uma
das mais dramáticas consequências do capitalismo de plataforma, é a drástica
redução da responsabilidade socioambiental corporativa. Slee cita diversos
exemplos em que, embora as plataformas sejam as maiores beneficiárias das
operações comerciais que intermediam, elas renunciam a qualquer
responsabilidade sobre suas consequências. E os gigantes digitais que hoje
aparecem como expressão emblemática do capitalismo de plataforma insistem na
narrativa de que são simples intermediários e que a responsabilidade pela
relação comercial entre os que oferecem os bens e os serviços e os que os
demandam não lhes cabe.
O
livro de Tom Slee não é uma condenação ou uma expressão de ceticismo diante do
fenômeno da cooperação social. É claro que a vida social depende do fato de os
indivíduos e as organizações, nas mais variadas dimensões de suas vidas
(inclusive na economia) compartilharem não apenas bens e serviços, mas
sobretudo informação e conhecimento. As inúmeras práticas de ajuda mútua, que
vão desde o cuidado com as crianças dos vizinhos até a formação de sistemas
informais de microfinanças são generalizadas no mundo todo. Além disso, no
interior da cultura digital há várias plataformas em que o compartilhamento se
realiza, de fato, entre pessoas ou entre empresas, sem que isso abra caminho à
concentraçãoo de fortunas e de poder que marca a face hoje mais visível e à
qual Tom Slee dedica mais atenção da sharing economy. Parte crescente da
inovação tecnológica contemporânea apoia-se em práticas pertencentes ao
knowledge commons. Da mesma forma que ocorre com inúmeras situações de recursos
naturais geridos por comunidades como pertencentes a todos (e cujo estudo
respondeu pelo prêmio Nobel de Economia a Elinor Ostrom), há um vasto campo de
“commons” cuja administração não é centralizada num punhado de empresas
altamente lucrativas.
É
claro que o avanço cada vez maior da conectividade e dos meios para que ela
chegue ao maior número de pessoas pode ser benéfico. Mas a distância entre
conexão e bem-estar social será tanto maior quanto mais poderosos forem os
gigantes digitais que determinam as regras sob as quais o maior bem comum
criado pela inteligência humana, a internet, funciona. Contrariamente à crença
dos protagonistas dominantes da sharing economy, a revolução digital só vai
melhorar a vida das sociedades contemporâneas se ela se apoiar em real
abertura, em participação transparente e em redução das desigualdades. O livro
de Tom Slee é uma contribuição fundamental nesta direção.