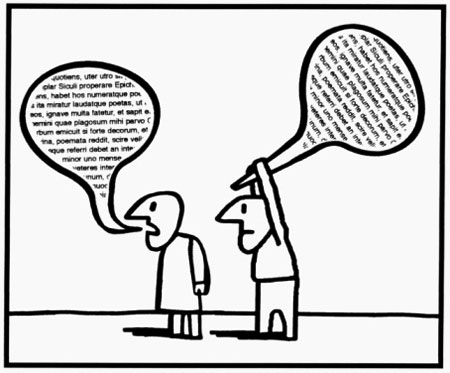Por
Boaventura de Sousa Santos
(Universidade de Coimbra - Portugal)
Quando,
há quase trinta anos, iniciei os estudos sobre o sistema judicial em vários
países, a administração da justiça era a dimensão institucional do Estado com
menos visibilidade pública. A grande exceção eram os EUA devido ao papel
fulcral do Tribunal Supremo na definição das mais decisivas políticas públicas.
Sendo o único órgão de soberania não eleito, tendo um carácter reativo (não
podendo, em geral, mobilizar-se por iniciativa própria) e dependendo de outras
instituições do Estado para fazer aplicar as suas decisões (serviços
prisionais, administração pública), os tribunais tinham uma função
relativamente modesta na vida orgânica da separação de poderes instaurada pelo
liberalismo político moderno, e tanto assim que a função judicial era
considerada apolítica. Contribuía também para isso o facto de os tribunais só
se ocuparem de conflitos individuais e não coletivos e estarem desenhados para
não interferir com as elites e classes dirigentes, já que estas estavam
protegidas por imunidades e outros privilégios. Pouco se sabia como
funcionava o sistema judicial, as características dos cidadãos que a ele
recorriam e para que objetivos o faziam. Tudo mudou desde então até aos nossos
dias. Contribuíram para isso, entre outros fatores, a crise da representação
política que atingiu os órgãos de soberania eleitos, a maior consciência dos
direitos por parte dos cidadãos e o facto de as elites políticas, confrontadas
com alguns impasses políticos em temas controversos, terem começado a ver o
recurso seletivo aos tribunais como uma forma de descarregarem o peso político
de certas decisões. Foi ainda importante o facto de o neoconstitucionalismo
emergente da segunda guerra mundial ter dado um peso muito forte ao controlo da
constitucionalidade por parte dos tribunais constitucionais. Esta inovação teve
duas leituras opostas. Segundo uma das leituras, tratava-se de submeter a
legislação ordinária a um controlo que impedisse a sua fácil instrumentalização
por forças políticas interessadas em fazer tábua rasa dos preceitos
constitucionais, como acontecera, de maneira extrema, nos regimes ditatoriais
nazis e fascistas. Segundo a outra leitura, o controlo da constitucionalidade
era o instrumento de que se serviam as classes políticas dominantes para se
defenderem de possíveis ameaças aos seus interesses decorrentes das
vicissitudes da política democrática e da “tirania das maiorias”. Como quer que
seja, por todas estas razões surgiu um novo tipo de ativismo judiciário que
ficou conhecido por judicialização da política e que inevitavelmente conduziu à
politização da justiça.
A
grande visibilidade pública dos tribunais nas últimas décadas resultou, em boa
medida, dos casos judiciais que envolveram membros das elites políticas e
económicas. O grande divisor de águas foi o conjunto de processos criminais que
atingiu quase toda a classe política e boa parte da elite económica da Itália
conhecido por Operação Mãos Limpas. Iniciado em Milão em abril de 1992,
consistiu em investigações e prisões de ministros, dirigentes partidários,
membros do parlamento (em certo momento estavam a ser investigados cerca de um
terço dos deputados), empresários, funcionários públicos, jornalistas, membros
dos serviços secretos acusados de crimes de suborno, corrupção, abuso de poder,
fraude, falência fraudulenta, contabilidade falsa, financiamento político
ilícito. Dois anos mais tarde tinham sido presas 633 pessoas em Nápoles,
623 em Milão e 444 em Roma. Por ter atingido toda a classe política com
responsabilidades de governação no passado recente, o processo Mãos Limpas
abalou os fundamentos do regime político italiano e esteve na origem da
emergência, anos mais tarde, do “fenómeno” Berlusconi. Ao longo dos anos, por
estas e por outras razões, os tribunais têm adquirido grande notoriedade
pública em muitos países. O caso mais recente e talvez o mais dramático de
todos os que conheço é a Operação Lava Jato no Brasil.
Iniciada
em março de 2014, esta operação judicial e policial de combate à corrupção, em
que estão envolvidos mais de uma centena de políticos, empresários e gestores,
tem-se vindo a transformar a pouco e pouco no centro da vida política
brasileira. Ao entrar na sua 24ª fase, com a implicação do ex-presidente Lula
da Silva e com o modo como foi executada, está a provocar uma crise política de
proporções semelhantes à que antecedeu o golpe de Estado que em 1964 instaurou
a uma odiosa ditadura militar que duraria até 1985. O sistema judicial,
que tem a seu cargo a defesa e garantia da ordem jurídica, está transformado
num perigoso fator de desordem jurídica. Medidas judiciais flagrantemente
ilegais e inconstitucionais, a seletividade grosseira do zelo persecutório,
a promiscuidade aberrante com a mídia ao serviço das elites políticas
conservadoras, o hiper-ativismo judicial aparentemente anárquico, traduzido,
por exemplo, em 27 liminares visando o mesmo ato político, tudo isto conforma
uma situação de caos judicial que acentua a insegurança jurídica, aprofunda a
polarização social e política e põe a própria democracia brasileira à beira do
caos. Com a ordem jurídica transformada em desordem jurídica, com a democracia
sequestrada pelo órgão de soberania que não é eleito, a vida política e social
transforma-se num potencial campo de despojos à mercê de aventureiros e abutres
políticos. Chegados aqui, várias perguntas se impõem. Como se chegou a este
ponto? A quem aproveita esta situação? O que deve ser feito para salvar a
democracia brasileira e as instituições que a sustentam, nomeadamente os
tribunais? Como atacar esta hidra de muitas cabeças de modo a que de cada
cabeça cortada não cresçam mais cabeças? Procuro identificar neste texto algumas
pistas de resposta.
Como chegámos a
este ponto?
Por
que razão a Operação Lava Jato está a ultrapassar todos os limites da polémica
que normalmente suscita qualquer caso mais saliente de ativismo judicial?
Note-se que a semelhança com os processos Mãos Limpas na Itália tem sido
frequentemente invocada para justificar a notoriedade e o desassossego públicos
causado pelo ativismo judicial. Mas as semelhanças são mais aparentes do que
reais. Há, pelo contrário, duas diferenças decisivas entre as duas operações.
Por um lado, os magistrados italianos mantiveram um escrupuloso respeito pelo
processo penal e, quando muito, limitaram-se a aplicar normas que tinham sido
estrategicamente esquecidas por um sistema judicial conformista e conivente com
os privilégios das elites políticas dominantes na vida política italiana do
pós-guerra. Por outro lado, procuraram investigar com igual zelo os crimes de
dirigentes políticos de diferentes partidos políticos com responsabilidades
governativas. Assumiram uma posição politicamente neutra precisamente para
defender o sistema judicial dos ataques que certamente lhe seriam desferidos
pelos visados das suas investigações e acusações. Tudo isto está nos antípodas
do triste espetáculo que um setor do sistema judicial brasileiro está a dar ao
mundo. O impacto do ativismo dos magistrados italianos chegou a ser designado
por República dos Juízes. No caso do ativismo do setor judicial lava-jatista,
podemos falar, quando muito, de República judicial das bananas.
Porquê?
Pelo
impulso externo que com toda a evidência está por detrás desta específica
instância de ativismo judicial brasileiro e que esteve em grande medida ausente
no caso italiano. Esse impulso dita a escancarada seletividade do zelo
investigativo e acusatório. Embora estejam envolvidos dirigentes de vários
partidos, a Operação Lava Jato, com a conivência da mídia, tem-se esmerado na
implicação de líderes do PT com o objetivo, hoje indisfarçável, de
suscitar o assassinato político da Presidente Dilma Roussef e do ex-Presidente
Lula da Silva.
Pela
importância do impulso externo e pela seletividade da ação judicial que ele
tende a provocar, a Operação Lava Jato tem mais semelhanças com uma outra
operação judicial ocorrida na Alemanha, na República de Weimar, depois do
fracasso da revolução alemã de 1918. A partir desse ano e num contexto de
violência política provinda, tanto da extrema esquerda como da extrema
direita, os tribunais alemães revelaram um dualidade chocante de
critérios, punindo severamente a violência da extrema esquerda e tratando
com grande benevolência a violência da extrema direita, a mesma que anos
mais tarde iria a levar Hitler ao poder.
No
caso brasileiro, o impulso externo são as elites económicas e as forças
políticas ao seu serviço que não se conformaram com a perda das eleições
em 2014 e que, num contexto global de crise da acumulação do capital, se
sentiram fortemente ameaçadas por mais quatro anos sem controlar a parte
dos recursos do país diretamente vinculada ao Estado em que sempre
assentou o seu poder. Essa ameaça atingiu o paroxismo com a perspectiva de
Lula da Silva, considerado o melhor Presidente do Brasil desde 1988 e que
saiu do governo com uma taxa de aprovação de 80%, vir a postular-se como
candidato presidencial em 2018. A partir desse momento, a democracia
brasileira deixou de ser funcional para este bloco político conservador e
a desestabilização política começou. O sinal mais evidente da pulsão
anti-democrática foi o movimento pelo impeachment da Presidente Dilma
poucos meses depois da sua tomada de posse, algo, senão inédito, pelo
menos muito invulgar na história democrática das três últimas décadas.
Bloqueados na sua luta pelo poder por via da regra democrática das
maiorias (a “tirania das maiorias”), procuraram pôr ao seu serviço o órgão
de soberania menos dependente do jogo democrático e especificamente
desenhado para proteger as minorias, isto é, os tribunais. A Operação Lava
Jato, em si mesma uma operação extremamente meritória, foi o instrumento
utilizado. Contando com a cultura jurídica conservadora dominante no
sistema judicial, nas Faculdades de Direito e no país em geral, e com uma
arma mediática de alta potência e precisão, o bloco conservador tudo fez
para desvirtuar a Operação Lava Jata, desviando-a dos seus objetivos
judiciais, em si mesmos fundamentais para o aprofundamento democrático, e
convertendo-a numa operação de extermínio político. O desvirtuamento
consistiu em manter a fachada institucional da Operação Lava Jato mas
alterando profundamente a estrutura funcional que a animava por via da
sobreposição da lógica política à lógica judicial. Enquanto a lógica
judicial assenta na coerência entre meios e fins ditada pelas regras
processuais e as garantias constitucionais, a lógica política, quando
animada pela pulsão antidemocrática, subordina os fins aos meios, e é pelo
grau dessa subordinação que define a sua eficácia.
Em
todo este processo, três grandes fatores jogam a favor dos desígnios do
bloco conservador. O primeiro resultou da dramática descaracterização do
PT enquanto partido democrático de esquerda. Uma vez no poder, o PT
decidiu governar à moda antiga (isto é, oligárquica) para fins novos e
inovadores. Ignorante da lição da República de Weimar, acreditou que as
“irregularidades” que cometesse seriam tratadas com a mesma benevolência
com que eram tradicionalmente tratadas as irregularidades das elites e
classes políticas conservadoras que tinham dominado o país desde a
independência. Ignorante da lição marxista que dizia ter incorporado, não
foi capaz de ver que o capital só confia nos seus para o governar e que
nunca é grato a quem, não sendo seu, lhes faz favores. Aproveitando um
contexto internacional de excecional valorização dos produtos primários,
provocado pelo desenvolvimento da China,
incentivou os ricos a enriquecerem como condição para dispor dos
recursos necessários para levar a cabo as extraordinárias políticas de
redistribuição social que fizeram do Brasil um país substancialmente menos
injusto ao libertarem mais de 45 milhões de brasileiros da jugo endémico
da pobreza. Findo o contexto internacional favorável, só uma política “à
moda nova” poderia dar sustentação à redistribuição social, ou seja, uma
política que, entre muitas outras vertentes, assentasse na reforma
política para neutralizar a promiscuidade entre o poder político e o poder
económico, na reforma fiscal para poder tributar os ricos de modo a
financiar a
redistribuição social depois do fim do boom das commodities, e na reforma da mídia, não para censurar, mas
para garantir a diversidade da opinião publicada. Era, no entanto,
demasiado tarde para tanta coisa que só poderia ter sido feita em seu
tempo e fora do contexto de crise.
O segundo fator, relacionado com este, é a crise económica global e
o férreo controlo que tem sobre ela quem a causa, o capital
financeiro, entregue à sua voragem autodestrutiva, destruindo riqueza sob
o pretexto de criar riqueza, transformando o dinheiro, de meio de troca,
em mercadoria por excelência do negócio da especulação. A hipertrofia
dos mercados financeiros não permite crescimento económico e, pelo contrário, exige
políticas de austeridade por via dos quais os pobres são investidos
do dever de ajudar os ricos a manterem a sua riqueza e, se possível, a
serem mais ricos. Nestas condições, as precárias classes médias criadas no
período anterior ficam à beira do abismo de pobreza abrupta.
Intoxicadas pela mídia conservadora, facilmente convertem os governos
responsáveis pelo que são hoje em responsáveis pelo que lhes pode
acontecer amanhã. E isto é tanto mais provável quanto a sua viagem da
senzala para os pátios exteriores da Casa Grande foi realizada com o bilhete do
consumo e não com o bilhete da cidadania.
O
terceiro fator a favor do bloco conservador é o fato de o imperialismo
norte-americano estar de volta ao continente depois das suas aventuras
pelo Médio Oriente. Há cinquenta anos, os interesses imperialistas não
conheciam outro meio senão as ditaduras militares para fazer alinhar os
países do continente pelos seus interesses. Hoje, dispõem de outros meios
que consistem basicamente em financiar projetos de desenvolvimento local,
organizações não governamentais em que a defesa da democracia é a fachada
para atacar de forma agressiva e provocadora os governos progressistas
(“fora o comunismo”, “fora o marxismo”, “fora Paulo Freire”, “não somos a
Venezuela”, etc, etc.). Em tempos em que a ditadura pode ser dispensada se
a democracia servir os interesses económicos dominantes, e em que os
militares, ainda traumatizados pelas experiências anteriores, parecem
indisponíveis para novas aventuras autoritárias, estas formas de desestabilização
são consideradas mais eficazes porque permitem substituir governos
progressistas por governos conservadores mantendo a fachada democrática.
Os financiamentos que hoje circulam abundantemente no Brasil provêm de uma
multiplicidade de fundos (a nova natureza de um imperialismo mais difuso),
desde as tradicionais organizações vinculadas à CIA até aos irmãos Koch,
que nos
EUA financiam a política mais conservadora e que têm interesses sobretudo
no sector do petróleo, e às organizações evangélicas norteamericanas.
Como salvar a
democracia brasileira?
A
primeira e mais urgente tarefa é salvar o judiciário brasileiro do abismo
em que está a entrar. Para isso, o sector íntegro do sistema judicial, que
certamente é maioritário, deve assumir a tarefa de repor a ordem, a serenidade
e a contenção no interior do sistema. O princípio orientador é simples de
formular: a independência dos tribunais no Estado de direito visa permitir aos
tribunais cumprir a sua quota parte de responsabilidade na consolidação da
ordem e convivência democráticas. Para isso, não podem pôr a sua independência,
nem ao serviço de interesses corporativos, nem de interesses políticos
setoriais, por mais poderosos que sejam. O princípio é fácil de formular mas
muito difícil de aplicar. A responsabilidade maior na sua aplicação reside
agora em duas instâncias. O STF (Supremo Tribunal Federal) deve assumir o seu
papel de máximo garante da ordem jurídica e pôr termo à anarquia jurídica que
se está a instaurar. Muitas decisões importantes recairão sobre o STF nos
próximos tempos e elas devem ser acatadas por todos qualquer que seja o seu
teor. O STF é neste momento a única instituição que pode travar a dinâmica de
estado de exceção que está instalada. Por sua vez, o CNJ (Conselho Nacional de
Justiça), a quem compete o poder de disciplinar sobre os magistrados, deve
instaurar de imediato processos disciplinares por reiterada prevaricação e
abuso processual, não só ao juiz Sérgio Moro como a todos os outros que têm
seguido o mesmo tipo de atuação. Sem medidas disciplinares exemplares, o
judiciário brasileiro corre o risco de perder todo o peso institucional que
granjeou nas últimas décadas, um peso que, como sabemos, não foi sequer usado
para favorecer forças ou políticas de esquerda. Apenas foi conquistado mantendo
a coerência e a isonomia entre meios e fins.
Se
esta primeira tarefa for realizada com êxito, a separação de poderes será
garantida e o processo político democrático seguirá o seu curso. O governo
Dilma decidiu acolher Lula da Silva entre os seus ministros. Está no seu
direito de o fazer e não compete a nenhuma instituição, e muito menos ao
judiciário, impedi-lo. Não se trata de fuga à justiça por parte de um político
que nunca fugiu à luta, dado que será julgado (se esse for o caso) por quem
sempre o julgaria em última instância, o STF. Seria uma aberração jurídica
aplicar neste caso a teoria do “juiz natural da causa”. Pode, isso sim,
discordar-se do acerto da decisão política tomada. Lula da Silva e Dilma
Rousseff sabem que fazem uma jogada arriscada. Tanto mais arriscada se a
presença de Lula não significar uma mudança de rumo que tire às forças
conservadoras o controle sobre o grau e o ritmo de desgaste que exercem sobre o
governo. No fundo, só eleições presidenciais antecipadas permitiriam repor a
normalidade. Se a decisão de Lula-Dilma correr mal, a carreira de ambos terá
chegado ao fim, e a um fim indigno, e particularmente indigno para um político
que tanta dignidade devolveu a tantos milhões de brasileiros. Além disso, o PT
levará muitos anos até voltar a ganhar credibilidade entre a maioria da
população brasileira, e para isso terá de passar por um processo de profunda
transformação. Se correr bem, o novo governo terá de mudar urgentemente de
política para não frustrar a confianças dos milhões de brasileiros que estão a
vir para a rua contra os golpistas. Se o governo brasileiro quer ser ajudado
por tantos manifestantes, tem que os ajudar a terem razões para o ajudar. Ou
seja, quer na oposição, quer no governo, o PT está condenado a reinventar-se. E
sabemos que no governo esta tarefa será muito mais difícil.
A
terceira tarefa é ainda mais complexa, porque, nos próximos tempos, a
democracia brasileira vai ter de ser defendida tanto nas instituições como nas
ruas. Como nas ruas não se faz formulação política, as instituições terão a
prioridade devida mesmo em tempos de pulsão autoritária e de exceção
antidemocrática As manobras de desestabilização vão continuar e serão tanto
mais agressivas quanto mais visível for a fraqueza do governo e das forças que
o apoiam. Haverá infiltrações de provocadores tanto nas organizações e
movimentos populares como nos protestos pacíficos que realizarem. A vigilância
terá de ser total já que este tipo de provocação está hoje a ser utilizado em
muitos contextos para criminalizar o protesto social, fortalecer a repressão
estatal e criar estados de exceção, mesmo se com fachada de normalidade
democrática. De algum modo, como tem defendido Tarso Genro, o estado de exceção
está já instalado, de modo que a bandeira “Não vai ter golpe” tem de ser
entendida como denunciando o golpe político-judicial que já está em curso, um
golpe de tipo novo que é necessário neutralizar.
Finalmente,
a democracia brasileira pode beneficiar da experiência recente de alguns
países vizinhos.O modo como as políticas progressistas foram realizadas no
continente não permitiram deslocar para esquerda o centro político a
partir do qual se definem as posições de esquerda e de direita. Por isso,
quando os governos progressistas são derrotados, a direita chega ao poder
possuída por uma virulência inaudita apostada em destruir em pouco tempo
tudo o que foi construído a favor das classes populares no período
anterior. A direita vem então com um ânimo revanchista destinado a cortar
pela raiz a possibilidade de voltar a surgir um governo progressista no
futuro. E consegue a cumplicidade do capital financeiro internacional para
inculcar nas classes populares e nos excluídos a ideia de que
a austeridade não é uma política com que se possam defrontar; é um
destino a que têm de se acomodar. O governo de Macri na Argentina é um
caso exemplar a este respeito.
A
guerra não está perdida, mas não será ganha se apenas se acumularem
batalhas perdidas, o que sucederá se se insistir nos erros do passado.